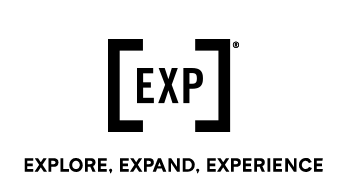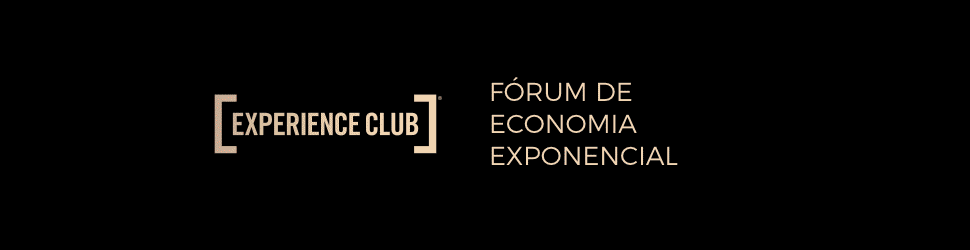Ideias centrais:
1 – Para receber financiamento em Princeton, eu precisava arrumar um emprego de meio expediente e acabei conseguindo um ótimo – assistente do diretor do TWC (Third World Center).
2 – Segundo Barack me descreveu, ele tinha sido feliz na Indonésia e se dava bem com seu padrasto, mas sua mãe se preocupava com a qualidade de sua educação escolar. Em 1971, Ann Dunham enviou seu filho de volta a Oahu [Havaí], onde morou com os pais dela.
3 – Eram exatamente dez horas da noite quando as redes de notícias começaram a exibir imagens do meu marido sorridente, declarando que Barack Hussein Obama se tornara o 44º presidente dos Estados Unidos.
4 – No fim de junho, nossa equipe original de jardineiros mirins da escola de Bancroft veio mais uma vez [à Casa Branca] para nossa primeira colheita e nos ajoelhamos para arrancar pés de alface e apanhar vagens de ervilha dos caules.
5 – Num piscar de olhos, há novas cabeças em novos travesseiros – novos temperamentos, novos sonhos. E quando o mandato acaba, quando você deixa a Casa Branca para trás, terá de se reencontrar em muitos aspectos.
Sobre a autora:

Michelle Robinson Obama exerceu o cargo de primeira-dama dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Formada na Universidade Princeton e na Escola de Direito de Harvard, iniciou sua carreira como advogada na firma de advocacia Sidley & Austin, onde conheceu seu futuro marido, Barack Obama.
Prefácio
E até pouco tempo atrás, fui a primeira-dama dos Estados Unidos da América – emprego que não é oficialmente um emprego, mas que ainda assim me deu uma plataforma que eu jamais imaginaria. Ele me desafiou e me deu uma lição de humanidade, me estimulou e me retraiu, às vezes tudo ao mesmo tempo. Só agra estou começando a processar o que aconteceu nesses últimos anos – do instante, em 2006, em que meu marido começou a falar em concorrer à presidência até a manhã fria de inverno quando entrei em uma limusine com Melania Trump para acompanhá-la à posse do marido. Foi uma jornada e tanto.
Ainda não sei muito sobre os Estados Unidos, sobre a vida, sobre o que o futuro trará. Mas eu me conheço. Meu pai, Fraser, me ensinou a trabalhar duro, rir com frequência e cumprir com a minha palavra. Minha mãe, Marian, me ensinou a pensar com a minha própria cabeça e a usar a minha voz. Juntos, no nosso apartamento apertado no South Side de Chicago, eles me ajudaram a enxergar o valor da nossa história, da história mais ampla desse país. Mesmo quando não é bonita ou perfeita. Mesmo quando é mais real do que você gostaria que fosse. Sua história é o que você tem, o que você sempre terá. É algo para se orgulhar.
A história começa – infância e juventude
Minha família vivia no bairro South Shore, em Chicago, em uma construção de tijolos que era de Robbie e de seu marido, Terry. Meus pais alugaram o aparamento do segundo andar e Robbie e Terry moravam no primeiro. Robbie era tia de minha mãe e foi muito generosa com ela ao longo dos anos, mas comigo era um terror. Empertigada e séria, ela dirigia o coro da igreja local e também era a professora de piano oficial da nossa comunidade. Usava saltos confortáveis e mantinha o par de óculos de leitura numa correntinha em volta do pescoço. Tinha um sorriso maroto, mas, ao contrário de minha mãe, não gostava de sarcasmo.
Piano na veia. Eu tinha quatro anos quando resolvi aprender a tocar piano. Craig, que estava no primeiro ano, já visitava o andar de baixo para tomar aulas semanais no piano vertical de Robbie e voltava relativamente ileso. Achei que estava pronta. Estava convicta de que, na verdade, já tinha aprendido piano por osmose – aquelas horas todas ouvindo as outras crianças tateando canções. A música já estava na minha cabeça. Eu só queria descer e demonstrar à minha exigente tia-avó que eu era uma menina muito talentosa, que não seria preciso esforço algum para me tornar sua melhor aluna.
Era uma vez, uma avó. Eu tinha medo de Robbie? Não exatamente, mas algo nela era amedrontador. Ela representava a autoridade religiosa com que eu ainda não tinha me deparado em nenhum outro lugar. Exigia excelência de todas as crianças que se sentavam ao piano. Eu a enxergava como alguém a conquistar, ou talvez, de alguma forma, a vencer. Com ela, eu sentia sempre que tinha algo a provar.
Ler conjunto de palavras. Gostei da escola logo de cara. Gostei da professora, uma senhora branca e pequenina chamada Sra. Burroughs, que me parecia uma anciã, mas devia ter uns cinquenta anos. Sua sala de aula tinha janelas amplas ensolaradas, uma coleção de bonecas e uma casinha de papelão gigantesca nos fundos. Fiz amizades na minha turma, atraída pelas crianças que, assim como eu, pareciam loucas para estar ali. Eu confiava na minha capacidade de ler. Em casa, devorei os livros da coleção infantil Dick and Jane, graças ao cartão da biblioteca da minha mãe. Portanto, vibrei ao saber que nossa primeira tarefa como alunos do jardim de infância seria aprender a ler conjuntos de palavras à primeira vista.
Nações unidas no bairro. Morávamos num bairro da classe média com pessoas de todas as etnias. As crianças se juntavam não na base da cor da pele, mas em quem estava lá fora, pronto para brincar. Entre minhas amigas estavam uma menina chamada Rachel, cuja mãe era branca e tinha sotaque britânico; Susie, uma ruiva de cabelo cacheado; e a neta dos Mendoza, sempre que ela os visitava. A vizinhança era uma mescla heterogênea de sobrenomes – Kansopant, Abuasef, Yacker, Robinson – e éramos muito novos para entender que as coisas ao nosso redor mudavam depressa. Em 1950, quinze anos antes de meus pais se mudarem para South Shore, o bairro era 90% branco. Quando saí de lá e fui para a faculdade em 1981, era 90% negro.
Levávamos uma vida de pouco luxo. Quando Craig e eu recebíamos o boletim da escola, nossos pais comemoravam pedindo pizza no Italian Fiesta, nosso restaurante preferido.
No calor, comprávamos sorvete – meio litro de chocolate, meio de noz-moscada e meio de cereja – e fazíamos que durasse dias. Todo ano, quando íamos ao Air and Water Show, preparávamos um piquenique e seguíamos rumo ao norte, margeando o lago Michigan, até a península cercada onde ficava a estação de tratamento de água onde meu pai trabalhava.
Conhecendo o subúrbio. Eu tinha dez anos quando finalmente amadureci o bastante para começar a me aventurar, uma decisão instigada em grande parte pelo tédio. Era verão e eu estava de férias. Todos os dias, Craig e eu pegávamos o ônibus até o lago Michigan para ir à colônia de recreação administrada pela prefeitura num parque de frente para a praia, mas tínhamos de voltar às quatro da tarde, quando ainda restavam muitas horas de sol no dia. Minhas bonecas estavam se tornando menos interessantes e, sem ar-condicionado, o nosso apartamento ficava insuportavelmente quente no fim da tarde. Foi assim que comecei a seguir Craig pelo bairro, conhecendo as crianças que ainda não conhecia da escola.
Ensino médio. Havia cerca de 1.900 alunos na Whitney Young, e todos pareciam mais velhos e mais seguros do que eu jamais seria, com pleno domínio de todas as células cerebrais, movidas por todas as questões de múltipla escolha que tinham acertado na prova padronizada realizada na cidade toda. Olhei em volta e me senti pequena. Era uma das alunas mais velhas na Bryn Mawr e agora estava entre os mais novos do ensino médio. Ao descer do ônibus, notei que, além da mochila com os livros, muitas meninas também carregavam bolsas.
A Whitney Young era subdividida em cinco “casas”, cada uma delas servindo de base para seus membros, feitas para proporcionar intimidade com a experiência numa escola grande. Eu ficava na Casa Dourada, chefiada por um diretor assistente chamado Sr. Smith, que morava a algumas casas da minha família na Euclid Avenue. Eu fazia bicos para o Sr. Smith e sua família havia anos, e tendo sido contratada para fazer de tudo: ser baby-sitter das crianças e ensiná-las aulas de piano e tentar adestrar seu cachorrinho impossível de adestrar.
Estranha no ninho. Princeton era extremamente branca e muito masculina. Não havia como evitar os fatos. Havia quase o dobro de homens em relação às mulheres. Alunos negros eram menos de 9% da minha turma de calouros. Se durante o programa de orientação começamos a nos sentir os donos do lugar, agora éramos uma anomalia gritante – sementes de papoula numa tigela de arroz. Embora Whitney Young fosse uma escola com certa diversidade, eu nunca tinha feito parte de uma comunidade predominantemente branca. Nunca tinha me destacado em uma multidão ou em uma sala devido à cor da minha pele. Pelo menos no começo foi desagradável e incômodo, como ser lançada num viveiro estranho, um hábitat que não era feito para mim.
Em Princeton, eu precisava dos meus amigos negros. Ajudávamos e apoiávamos uns aos outros. Muitos tinham chegado à faculdade sem sequer ter a noção de nossas desvantagens. Aos poucos você vai descobrindo que seus novos colegas estudaram com professores particulares antes do SAT [Teste de Aptidão], tiveram aulas de nível universitário na escola ou estudaram em colégios internos, portanto não tiveram que lidar com as dificuldades de estar longe de casa pela primeira vez.
Assistente de diretoria. Para receber o financiamento em Princeton, eu precisava arrumar um emprego de meio expediente, e acabei conseguindo um ótimo – assistente do diretor do TWC (Third World Center). Eu trabalhava umas dez horas por semana, quando não estava em aula, sentada à mesa ao lado de Loretta, a secretária em tempo integral. Datilografava memorandos, atendia ao telefone e orientava estudantes que chegavam com perguntas sobre abandono de matérias ou sobre como se inscrever para as refeições comunitárias, organizadas por alunos da universidade.
Finalmente, o Príncipe Encantado…

Barak Obama chegou atrasado no primeiro dia. Sentei-me na minha sala no 47º andar, esperando e não esperando que ele chegasse. Como a maioria dos advogados de primeiro ano, eu era ocupadíssima. Cumpria um expediente de muitas e longas horas na Sidley & Austin, muitas vezes almoçava e jantava à mesa do trabalho enquanto lutava com um fluxo contínuo de documentos, todos escritos em meticuloso e decoroso jargão jurídico. Eu lia memorandos, redigia memorandos, editava memorandos alheios. A essa altura, eu me considerava basicamente trilingue. Dominava o dialeto relaxado e espontâneo do South Side de Chicago, o discurso empolado das universidades de ponta da Ivy League e agora falava juridiquês também.
Geninho da Harvard. Barack Obama já havia criado um rebuliço na empresa. Em primeiro lugar, acabara de terminar o primeiro ano da faculdade de direito e normalmente eram contratados apenas alunos secundaristas como associados temporários. Mas havia rumores de que Barack era excepcional. Corria a noticia de que um de seus professores em Harvard – a filha de um dos sócios-gerentes do escritório – afirmou que ele era o mais talentoso estudante de direito que ela já havia conhecido. Algumas das secretárias que o viram no dia da entrevista disseram que, além do suposto brilhantismo, Barak era uma gracinha.
Barack morava em Hyde Park, num apartamento sublocado de um amigo. No momento em que chegamos ao bairro, pairava no ar uma tensão entre nós, como se algo inevitável ou predestinado estivesse finalmente prestes a acontecer. Ou era a minha imaginação? Talvez eu já tivesse rejeitado Barack muitas vezes. Talvez ele já tivesse desistido e agora só me visse como uma boa e leal amiga – uma garota que dirigia uma Saab com ar-condicionado e que lhe daria uma carona quando ele precisasse.
Parei o carro na frente do prédio dele, minha mente ainda sobrecarregada e turva. Houve um momento constrangedor, cada um esperando que o outro iniciasse a despedida. Barack inclinou a cabeça para mim.
– Vamos tomar um sorvete?, perguntou ele.
A nossa história
Se a minha família era um quadrado, a de Barack era uma figura geométrica mais elaborada, que se estendia oceanos afora. Havia passado anos a fio tentando entender a própria linhagem. Em 1960, sua mãe, Ann Dunham, era uma universitária de dezessete anos no Havaí quando se apaixonou por um estudante queniano chamado Barack Obama. O casamento deles foi breve e confuso – especialmente levando-se em conta que o marido, descobriu-se, já tinha uma esposa em Nairóbi. Depois do divórcio, Ann casou-se com um geólogo javanês chamado Lolo Soetoro e se mudou para Jacarta, Indonésia, levando o jovem Barack Obama – meu Barack Obama -, que a esta altura estava com seis anos de idade.
Educação no Havaí. Segundo Barack me descreveu, ele tinha sido feliz na Indonésia e se dava bem com seu novo padrasto, mas sua mãe se preocupava com a qualidade de sua educação escolar. Em 1971, Ann Dunham enviou seu filho de volta a Oahu [Havaí] para frequentar uma escola particular e morar com os pais dela. Ann era um espírito livre que passaria anos revezando entre o Havaí e a Indonésia. Exceto por uma longa viagem de volta ao Havaí quando Barack tinha dez anos, seu pai – um homem que, segundo todos os relatos, tinha uma mente poderosa e um problema poderoso com bebida – permaneceu ausente e distante.
Sua vida familiar o deixara autoconfiante e curiosamente programado para o otimismo. O fato de ter contornado com tanto êxito sua criação incomum parecia apenas reforçar a ideia de que ele estava pronto para enfrentar mais desafios.
Emprego alinhado a seus valores. Em outras palavras, meu namorado era realmente incrível. Àquela altura, poderia ter escolhido qualquer emprego com salário alto em várias firmas de advocacia, mas em vez disso estava pensando em atuar na área de direitos civis, assim que conseguisse o diploma, ainda que isso demandasse o dobro do tempo para pagar seus empréstimos estudantis.
Praticamente, todas as pessoas que ele conhecia o instigavam a seguir o exemplo de muitos editores anteriores da Harvard Law Review e se candidatar a um estágio na Suprema Corte, o que para ele seria moleza. Mas Barack não estava interessado.
Ele queria morar em Chicago. Tinha ideias para escrever um livro sobre a questão social nos Estados Unidos e, segundo ele, planejava encontrar um emprego alinhado com seus valores, o que significava que muito provavelmente não terminaria no direito corporativo.
O que serei? Ponderei sobre o que poderia fazer, sobre quais habilidades e talentos eu talvez possuísse. Eu tinha condições de ser professora? Uma administradora na faculdade? Quem sabe coordenar um programa de reforço escolar e atividades extracurriculares para crianças, uma versão profissionalizada do que tinha feito para Czerny em Princeton? Eu estava interessada em trabalhar para uma fundação ou uma organização sem fins lucrativos.
Amarrando as pontas. Eu disse “sim” para Barack, e logo depois eu disse “sim” para Valerie Jarrett, aceitando a oferta para trabalhar na prefeitura. Antes de assumir, fiz questão de levar adiante meu pedido de apresentar Barack a Valerie, marcando um jantar para nós três podermos conversar.
Fiz isso por duas razões. Em primeiro lugar, eu gostava de Valerie. Fiquei impressionada com ela, e, aceitando ou não o emprego, a ideia de conhecê-la melhor me empolgava. Sabia que Barack também ficaria impressionado. Em segundo lugar, e mais importante, porém, eu queria que ele ouvisse a história de Valerie. Assim como Barack, ela havia passado parte da infância num pais diferente – no caso dela, o Irã, onde seu pai trabalhava como médico em um hospital – e retornou aos Estados Unidos para estudar, o que deu o mesmo tipo de visão de mundo perspicaz que eu via em Barack.
Casamento de casa cheia. Barack e eu nos casamos num sábado de sol em outubro de 1992 diante de mais de trezentos parentes e amigos, na Igreja da Trindade Unida em Cristo no South Side. Foi um casamento grande, e tinha de ser grande mesmo. Se íamos nos casar em Chicago, não havia como diminuir a lista de convidados. Minhas raízes eram muito longas. Além dos primos, havia os primos dos primos, e esses primos também tinham filhos; eu nunca deixaria nenhum deles de fora, e todos tornaram o dia mais alegre e significativo.
Depois de um ano agitado, estávamos loucos para dar uma espairecida. Originalmente, Barack tinha planejado passar os meses antes do casamento terminando o livro e trabalhando no seu novo escritório de advocacia, mas acabou interrompendo bruscamente grande parte da programação. Em algum momento no começo de 1992, fora consultado pelos dirigentes de uma organização nacional apartidária, chamada VOTE!, que registrava novos eleitores em estados onde o comparecimento das minorias às urnas era tradicionalmente baixo. Perguntaram se Barack aceitaria comandar o processo em Illinois, abrindo um escritório em Chicago para registrar eleitores negros antes das eleições de novembro. Calculava-se que havia no estado cerca de 400 mil afro-americanos aptos a votar, mas ainda não tinham registro, a maioria deles de Chicago e arredores.
Dizer que Barack se jogou de cabeça na tarefa é pouco. A meta do projeto VOTE! era registrar novos eleitores de Illinois a um ritmo alucinante de 10 mil por semana.
Emprego na Public Allies. Meu novo emprego me deixou nervosa. Eu tinha sido contratada como diretora executiva da nova divisão de Chicago de uma recém-criada organização chamada Public Allies. Era uma espécie de startup dento de uma startup e numa área em que eu não tinha nenhuma experiência profissional. A Public Allies fora fundada apenas um ano antes, em Washington, DC, por Vanessa Kirsch e Katrina Browne, que tinham acabado de sair da faculdade e queriam ajudar outras pessoas a encontrarem o próprio caminho em carreiras no serviço público e em trabalhos sem fins lucrativos. Barack conheceu as duas numa conferência e passara a fazer parte do conselho administrativo, sugerindo, depois de um tempo, que elas entrassem em contato comigo para preencher a vaga.
Rumo ao Senado e à Casa Branca
Primeiro degrau da carreira. Barack foi eleito para o Senado de Illinois em novembro de 1996 e prestou juramento do cargo dois meses depois, no começo do ano seguinte. Para minha surpresa, gostei de acompanhar o desenrolar da campanha. Eu tinha ajudado a coletar assinaturas para a candidatura dele, passando os sábados batendo à porta dos meus antigos vizinhos, ouvindo o que os moradores tinham a dizer sobre o estado e o governo, tudo o que achavam que precisava ser corrigido. Isso me fazia lembrar os fins de semana da época em que eu era criança, acompanhando meu pai enquanto ele subia os degraus de todas aquelas varandas e cumpria suas obrigações de delegado distrital do Partido Democrata. Afora isso, eu não era muito necessária, o que vinha a calhar. Podia tocar a campanha como um passatempo, participando quando conveniente, entretendo-me um pouco e então voltando a meu trabalho.
Senador por Illinois. O que estava acontecendo? Eu mal conseguia acompanhar. Em novembro, Barack foi eleito para o Senado federal com 70% dos votos, a maior margem na história de Illinois e a votação mais esmagadora daquele ano em todas as disputas do Senado no país. Teve maioria significativa entre negros, brancos e latinos, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre urbanos, suburbanos e rurais.
Em dado momento, fomos ao Arizona para um rápido descanso e lá ele foi cercado por inúmeras pessoas lhe desejando boa sorte. Para mim aquilo foi uma verdadeira e estranha medida da sua fama: agora, até os brancos o reconheciam.
O furacão Katrina devastou a Costa do Golfo no fim de agosto de 2005, rompendo os diques de New Orleans, inundando as regiões de baixa altitude, ilhando os moradores – em sua maioria negros – nos telhados dos lares destruídos. As consequências foram devastadoras, com os noticiários mostrando hospitais sem gerador, famílias aflitas sendo evacuadas para o estádio Superdome, socorristas paralisados por falta de equipamentos.
Visita após furacão. Acompanhei a cobertura do Katrina com uma dor no peito, sabendo que, se a catástrofe atingisse Chicago, muitos de meus tios e tias, primos e vizinhos teriam destino semelhante. A reação de Barack foi igualmente emotiva. Uma semana depois do furacão, somando-se ao ex-presidente George H.W. Bush, ele foi a Houston junto com Bill e Hilary Clinton, de quem era então colega no Senado, para visitarem as dezenas de milhares de evacuados de New Orleans que haviam se abrigado no estádio Astrodome.
Explosão de Barack. Assim que concordamos com a pré-candidatura [presidencial] de Barack, ele virou uma espécie de borrão humano, uma versão do homem que eu conhecia – um homem que de repente tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, movido por uma força maior e a ela submetido. Tínhamos menos de um ano até as disputas primárias, que começariam pelo estado de Iowa.
Os caciques de campanha. A operação inteira seria supervisionada pelos dois engajadíssimos David Axelrod e Plouffe. Axe, como todos os chamavam, tinha voz suave, maneiras afáveis e um bigode volumoso que se estendia de uma ponta a outra da boca. Ex-repórter do Chicago Tribune, havia migrado para a consultoria política e coordenaria a comunicação. Plouffe, com seu sorriso de menino aos 39 anos e seu profundo amor por estratégias e números, faria a coordenação geral.
Caucus de Iowa, um desafio. Numa das noites mais frias do ano, um número recorde de iowanos havia se encaminhado ao seu caucus, quase o dobro de quatro anos antes. Barack vencera entre brancos, negros e jovens. Mais da metade dos votantes nunca havia participado de caucus, e foi provavelmente esse grupo que ajudou a garantir a vitória. Os âncoras dos telejornais finalmente haviam chegado a Iowa e agora entoavam louvores ao garoto-prodígio da política que vencera com folga tanto a máquina Clinton quanto um ex-candidato à vice-presidência.
Discurso de apoio. Acelerei ainda mais o ritmo ao longo do verão de 2008, convicta de que podia fazer uma diferença positiva para Barack. Nos preparativos para a convenção que se aproximava, escrevi meu discurso com uma especialista pela primeira vez, uma jovem talentosa chamada Sarah Hurwitz, que me ajudou a moldar minhas ideias em um discurso preciso de dezessete minutos. No fim de agosto, após semanas de preparo cuidadoso, subi ao palco do Pepsi Center de Denver e me vi diante de 20 mil pessoas e mais milhões de espectadores pela TV, pronta para enunciar ao mundo quem eu realmente era.
Obama, primeiro presidente negro dos EUA. Quatro meses depois, em 4 de novembro de 2008, eu depositava na urna meu voto em Barack. Fomos bem cedo à nossa zona eleitoral, no ginásio da escola de ensino fundamental Beulah Shoesmith, a poucos quarteirões da nossa casa. Levamos Sasha e Malia, ambas prontas para ir à escola. Mesmo no dia da eleição – talvez especialmente no dia da eleição -, achei que seria uma boa ideia elas irem à aula. Escola era rotina. Escola era conforto. Enquanto passávamos por batalhões de fotógrafos e câmera de TV no caminho para o ginásio, enquanto todos ao nosso redor falavam do caráter histórico de tudo aquilo, eu estava feliz por ter preparado as lancheiras.

Eram exatamente dez horas da noite quando as redes de notícias começaram a exibir imagens do meu marido sorridente, declarando que Barack Hussein Obama se tornava o 44º presidente dos Estados Unidos. Todos nos levantamos e instintivamente começamos a gritar de emoção. A equipe da campanha afluiu na sala, assim como os Biden, todos pulando de abraço em abraço. Foi um momento surreal. Minha sensação era de que havia saído do meu corpo e via de fora minha reação.
Ele tinha conseguido. Nós todos tínhamos conseguido. Mal parecia possível, mas a vitória fora anunciada.
Uma história maior
Vida na casa Branca. O mais engraçado para mim era o fato de que Barack agora tinha três criados pessoais, todos militares, cujos deveres incluíam ficar de vigia em seu closet, certificando-se de que os sapatos estivessem engraxados, as camisas passadas, as roupas de ginástica sempre limpas e dobradas. A vida na Casa Branca era muito diferente da vida na Toca.
Em seu primeiro mês no cargo, Barack assinou a Lei Lilly Ledbretter de Pagamento Justo, lei que ajudou a proteger os trabalhadores contra a discriminação salarial baseada em fatores como gênero, raça ou idade. Ele ordenou o fim do uso de tortura em interrogatórios e iniciou um esforço (em última instância sem sucesso) para fechar o centro de detenção na baía de Guantánamo dentro de um ano. Revisou as regras éticas que regem as interações entre funcionários da Casa Branca com os lobistas e, o mais importante, conseguiu aprovar no Congresso um grande projeto de lei de estímulo econômico, embora nenhum deputado da bancada republicana na Câmara tenha votado a favor. A meu ver, ele parecia estar numa excelente fase. A mudança que prometera se tornava realidade.
Primeira-dama em ação. Logo no início aprendi que eu deveria trabalhar em conjunto com minha equipe para planejar e executar uma série de festas e jantares tradicionais, a começar pelo Governor’s Ball, festa de gala realizada todos os anos em fevereiro, no Salão Oeste. O mesmo valia para a anual Corrida dos Ovos de Páscoa, uma celebração familiar pascal ao ar livre com um concurso de “rolamento de ovos” que começou em 1878 e envolvia milhares de pessoas. Havia também almoços de primavera de que eu participava em homenagem aos cônjuges dos senadores e congressistas – semelhante àquele em que eu vira Laura Bush com um sorriso imperturbável enquanto tirava fotos intermináveis com os convidados.
Horta, um exemplo para a nação. Plantar uma horta na Casa Branca foi minha resposta a esse problema, e meu desejo era de que aquilo sinalizasse o início de algo maior. A administração de Barack estava concentrada em melhorar o acesso da população a serviços de saúde financeiramente viáveis, e a horta era minha maneira de transmitir uma mensagem paralela sobre uma vida saudável. Encarei aquele projeto como um teste preliminar que me ajudaria a determinar o que eu poderia realizar como primeira-dama – uma maneira literal de me enraizar naquele novo trabalho. Concebi a ideia como uma espécie de sala de aula ao ar livre, um lugar em que as crianças poderiam visitar para aprende sobre o cultivo de alimentos.

No fim de junho, nossa equipe original de jardineiros mirins da escola Bancroft veio mais uma vez para nossa primeira colheita, e nos ajoelhamos juntos na terra para arrancar os pés de alface e retirar as vagens de ervilha dos caules. Dessa vez, eles também brincaram com Bo, nosso cachorrinho que se mostrou apaixonado pela horta, saltitando em círculos ao redor das árvores antes de se esparramar de barriga ao sol entre os canteiros crescidos.
Dieta e saúde das crianças. Em meados de 2009, minha pequena equipe e eu começamos a trabalhar em consonância com o estafe dos assuntos políticos da Ala Oeste e a nos reunir com especialistas dentro e fora do governo a fim de formular um plano. Decidimos voltar nosso trabalho para as crianças. É espinhoso e politicamente difícil fazer adultos mudarem de hábitos; teríamos mais chances se tentássemos ajudar as crianças a pensar de maneira diferente sobre alimentação e exercícios. E quem poderia ir contra nós se estivéssemos genuinamente cuidando das crianças?
A horta continuou através das estações, ensinando-nos todo tipo de coisas. Colhemos melões que se revelaram pálidos e sem gosto, enfrentamos tempestades que destruíram a camada orgânica do solo, pássaros comeram nossos mirtilos, besouros devoraram os pepinos. Toda vez que algo dava errado, tínhamos a ajuda de Jim Adams, do Serviço Nacional de Parques, que era nosso jardineiro-chefe, e de Dale Haney, paisagista-chefe da Casa Branca: assim fazíamos pequenos ajustes e continuávamos saboreando a abundância geral. Começamos a doar uma parte de cada colheita para a Miriam’s Kitchen, uma organização sem fins lucrativos local que atendia os moradores de rua, e também começamos a produzir legumes, frutas e verduras em conserva e oferecê-los como presentes a dignatários em visitas oficiais, junto com potes de mel de nossas colmeias recém-incorporadas.
Força-tarefa contra obesidade infantil. O importante, para mim, era que não estávamos apenas anunciando fantasiosos castelos de areia. O esforço era real e o trabalho estava bem adiantado. Naquele mesmo dia, Barack havia assinado um memorando para a criação de uma força-tarefa federal, a primeira do gênero, cuja missão era refrear a obesidade infantil. E mais: os três principais fornecedores de refeições para as escolas anunciaram que reduziriam a quantidade de sal, açúcar e gordura em sua produção.
Horrores do Haiti. Visitei o Haiti com Jill Biden três meses após o terremoto de 2010, e senti um aperto no coração ao ver montanhas de escombros onde outrora existiam casas, locais onde dezenas de milhares de pessoas – mães, avós, bebês – haviam sido enterradas vivas. Visitamos um conjunto de ônibus convertidos em abrigos onde artistas locais faziam arteterapia com crianças desalojadas, que, apesar de terem perdido tudo, ainda transbordavam esperança, graças aos adultos a seu redor.
Mais importante, ao longo de 2010 me empenhei para ajudar a aprovar no Congresso uma nova lei relacionada à nutrição infantil, expandindo o acesso das crianças a alimentos saudáveis e de alta qualidade nas escolas públicas e aumentando o subsídio federal a refeições, pela primeira vez em trinta anos.
Ainda que geralmente eu me mantivesse de fora da política e da formulação de políticas públicas, essa tinha sido minha grande briga, a questão pela qual eu estava disposta a me lançar no ringue. A nova lei acrescentou mais frutas, legumes e hortaliças frescos, cereais integrais e laticínios reduzidos em gordura a cerca de 43 milhões de refeições servidas todos os dias; regulamentou as máquinas de venda automática dentro das escolas; forneceu às instituições escolares verbas para financiar a criação de hortas e o uso de produtos cultivados localmente. A meu ver, era uma vitória simples e direta – um golpe forte, porém prático, na questão da obesidade infantil.
Batalha da reeleição
Terminar o já começado. Barack e eu sabíamos que os meses de campanha [reeleição] exigiriam mais viagens, mais planejamento estratégico e mais preocupações. Era impossível não se preocupar com a reeleição. Os custos eram enormes. (Barack e Mitt Romney, o ex-governador de Massachusetts que viria a ser o candidato republicano, levantaram no total mais de US$ 1 bilhão cada um, para realizarem campanhas competitivas.) A responsabilidade também era enorme. A eleição determinaria tudo, do destino da nova lei de cuidados com a saúde à possibilidade de os Estados Unidos se juntarem à comunidade global no combate à mudança climática. Todos que trabalhavam na Casa Branca viviam num limbo, incertos quanto a um segundo mandato. Eu tentava nem pensar na possibilidade de derrota, mas ela existia.
Apesar dos problemas, porém, havia também muitas coisas que despertavam esperança. No final de 2011, os últimos soldados americanos tinham deixado o Iraque e estava em andamento uma retirada gradual das tropas no Afeganistão. Cláusulas importantes da lei de atendimento de saúde acessível (o chamado ObamaCare) tinham passado a vigorar, permitindo que os jovens permanecessem cobertos por mais tempo pelos seguros de saúde dos pais e impedindo que as seguradoras restringissem a cobertura de um paciente. Tudo isso era um avanço, eu dizia a mim mesma, passos rumo a um caminho mais abrangente.
Expectativas. No dia da eleição – 6 de novembro de 2012 –, aguardei temerosa e em silêncio. Barack , as meninas e eu estávamos em Chicago, na nossa casa na Greenwood Avenue, enredados no purgatório da espera para saber se toda uma nação nos aceitaria ou rejeitaria. Para mim, foi a eleição mais tensa até então. Senti como se fosse um referendo não só sobre o desempenho político de Barack e a situação do país, mas também sobre o caráter dele e nossa presença na Casa Branca. As meninas haviam estabelecido relações sólidas e alcançado uma normalidade que eu não queria interromper.
Somos bons. Barack venceu em todos menos em um dos estados mais disputados. Venceu entre jovens, minorias e mulheres, tal como em 2008. Apesar de tudo o que os republicanos haviam feito para impedi-lo, apesar das várias tentativas de obstruir o exercício da presidência, sua visão prevalecera. Pedíramos aos americanos permissão para continuar trabalhando – para terminar bem –, e recebemos. O alívio foi imediato. Somos bons o suficiente? Sim, somos.
Progressos conquistados. Passados tantos anos, eu me sentia grata pelo progresso que via, em 2015, ainda ia de tempos em tempos ao Hospital Walter Reed, mas a cada visita parecia diminuir o número de feridos. Os Estados Unidos tinham menos militares em risco no exterior, menos soldados precisando de cuidados médicos, menos mães sofrendo. Isso, para mim, era progresso.
Progresso era que os Centros de Controle de Doenças registrassem redução nos índices de obesidade infantil, especialmente entre as crianças de dois a cinco anos. Progresso era que 2 mil estudantes do ensino médio de Detroit aparecessem para me ajudara celebrar o College Signing Day, feriado que ajudamos a difundir com parte do programa Reach Higher, para marcar o dia em que os jovens assumiam compromisso com as suas faculdades. Progresso era a decisão da Suprema Corte, rejeitando a contestação de uma parte essencial da nova lei de saúde no país e na prática garantindo que a principal realização de Barack no âmbito doméstico – que todo americano tivesse direito a assistência médica – se mantivesse firme e intocável, mesmo depois que ele deixasse a presidência. Progresso era uma economia que vinha sofrendo uma sangria de 800 mil postos de trabalho por mês quando Barack entrou na Casa Branca e que agora completava cinco anos seguidos de aumento de oferta de empregos.
Horta, uma rica história. A marca mais duradoura, porém, ficava no lado de fora. A horta persistiu por sete anos e meio, produzindo quase uma tonelada de alimentos por ano. Sobreviveu a nevascas, chuvas torrenciais e granizos devastadores. Alguns anos antes, quando vendavais derrubaram a Árvore de Natal Nacional, de mais de doze metros de altura, a horta sobreviveu ilesa. Antes de deixar a Casa Branca, quis lhe garantir permanência ainda maior. Ampliamos a área para 260 metros quadrados, mais do que o dobro do tamanho original. Acrescentamos algumas trilhas de cascalho e bancos de madeira, além de aconchegante pérgula com madeira proveniente das propriedades dos presidentes Jeferson, Madison e Monroe e da casa de infância de Martin Luther King Jr.
Agradecimentos. Agradeço às centenas de homens e mulheres que se empenham diariamente em fazer da Casa Branca um lar para as famílias que têm o privilégio de residir em um dos nossos mais estimados monumentos – porteiros, chefs de cozinha, mordomos, floristas, jardineiros, arrumadeiras e equipes técnicas. Sempre serão uma parte importante da nossa família.
Missão cumprida. Uma transição é exatamente a definição da palavra: a passagem de um estado de coisas a outro. Põe-se a mão sobre a Bíblia, repete-se um juramento. A mobília de um presidente sai para dar lugar à do outro. Esvaziam-se os guarda-roupas para logo serem novamente preenchidos. Num piscar de olhos, há novas cabeças em novos travesseiros – novos temperamentos, novos sonhos. E quando o mandato acaba, quando você deixa a Casa Branca para trás, terá de se reencontrar em muitos aspectos.
Resenha: Rogério H. Jönck
Imagens: Reprodução

Ficha técnica:
Título: Minha história
Título original: Becoming
Autora: Michelle Obama
Primeira edição: Objetiva