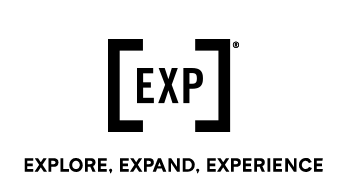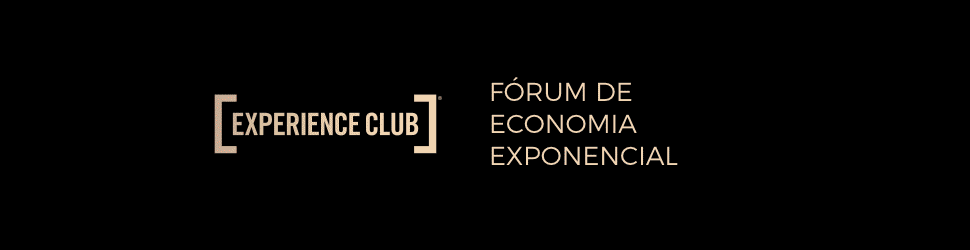Conheça a trajetória dos empreendedores por trás dos primeiros unicórnios brasileiros, dos primeiros passos em uma década marcada por crises políticas e econômicas ao crescimento exponencial alavancado por grandes fundos de investimento
Ideias centrais:
1 – O que fez o Brasil para ostentar unicórnios? Aplicou o método lean (enxuto) usado no mundo inteiro, no qual um plano de negócios padrão é substituído pelo ciclo de três eixos — ideias, produtos e dados: elabora uma hipótese para o consumidor, lança no mercado e mede os resultados.
2 – Quando os criadores do QuintoAndar se sentaram para escolher um tipo de empresa que poderiam inventar, fizeram o caminho contrário: procuraram quais problemas atacar – entraves e aborrecimentos cuja solução traria satisfação às pessoas. Atacaram o aluguel.
3 – O Nubank quis se notabilizar pela transparência e bom trato dos clientes, além de ferramentas digitais. Exemplo: a cofundadora Cristina Junqueira respondia a e-mail de cliente, pedindo desculpas pela demora, porque ela havia dado à luz uma filha, no dia anterior.
4 – Para que o aplicativo 99 Taxi tivesse crescimento, a agência utilizou a propaganda em camisas de times. Em São Paulo, o time escolhido foi o Corinthians. Resultado: o crescimento do app 99 ocorreu em 2015, em paralelo à conquista do Campeonato Brasileiro pelo alvinegro.
5 – A seleção de trainees semestral da Stone é uma das maiores do Brasil. São três dias de confinamento. Uma das últimas edições do Recruta recebeu 70 mil candidatos para a escolha de quatro finalistas. Etapa crucial é a apresentação de livros listados previamente para entendimento e interpretação.
Sobre o autor:
Daniel Bergamasco é jornalista com MBA em inovação e passou por veículos como Folha de S. Paulo (nas funções de repórter, editor e correspondente em Nova York), Veja São Paulo. Da ideia ao bilhão é o seu primeiro livro.
Introdução
Em uma década marcada pela grave crise econômica nacional, os empreendedores por trás dos primeiros unicórnios brasileiros tiveram coragem de começar – em geral por volta de 2012 e 2013,quando o pessimismo era presente –, a garra para insistir enquanto quase todos os outros setores do país iam mal, a habilidade de passar do estágio de startup para scale-ups (empresas mais maduras que sustentam alto crescimento por anos seguidos) e enfim a capacidade de se provar fortes (e, em muitos casos, de brilhar) quando a economia do mundo sofria o abalo da pandemia da covid-19.
Ao longo dessa trajetória, tais iniciativas transformaram seus mercados. O jeito de alugar um apartamento nas grandes cidades, de pedir comida, de comprar produtos do exterior, de ter uma conta no banco – tudo mudou em poucos anos.
O resultado é que o Brasil, por uma série de fatores, tem se destacado no setor de inovação, mesmo diante do contexto nacional desfavorável. Em 2019, foi o terceiro país com o maior número de novos unicórnios, com um total de cinco –atrás dos Estados Unidos (78) e da China (22), empatado com a Alemanha e à frente da Grã-Bretanha, de Israel e da Índia (com quatro cada um), na contabilização da influente plataforma de dados CrunchBase.
A população brasileira, que, a despeito dos milhões sem acesso à internet tem o quarto maior número de usuários do Facebook no mundo, se mostra há anos engajada no consumo de produtos digitais. Essa característica é crucial para entender a identidade do ecossistema brasileiro. A base é o mesmo método lean (enxuto) usado no mundo inteiro, no qual um plano de negócios padrão é substituído pelo ciclo de três eixos: ideias, produtos e dados. É algo bem simples: o empreendedor elabora uma hipótese do que deseja o consumidor, lança no mercado e depois mede os resultados para, a partir daí, aperfeiçoar a ideia, que vai resultar em outro produto, com novos dados… E assim sucessivamente, gastando dinheiro aos poucos e corrigindo a rota de forma rápida.

Capítulo 1 – A ideia ruim que vale ouro (QuintoAndar)
Semanas antes de esse salto bilionário acontecer [Airbnb], o mineiro Gabriel Braga, na época com 29 anos, chegou ao Airbnb para um estágio de curta temporada. A sede na Califórnia era meio feiosa e ele se sentava em uma cadeira velha, com buraco no assento, e uma porta apoiada sobre dois cavaletes lhe servia de mesa. Uma vez, ao descansar o cotovelo em um dos lados, a prancha girou e seus pertences voaram para o chão.
Cada novo dia ali trazia aprendizados valiosos, que ele tentava aproveitar ao máximo – não foi, afinal, à toa que o jovem pleiteou uma oportunidade no Airbnb. Àquela altura, ele já planejava, em parceria com André Penha, seu colega no MBA, a criação da plataforma que, ao tirar do processo a necessidade de cartórios e fiadores, simplificou o aluguel de imóveis nas grandes cidades brasileiras: o QuintoAndar.
Aos quinze anos, André era um entusiasta de eletrônica e computação quando criou uma rádio pirata em Divinópolis, no oeste mineiro. Não suportava a hegemonia do gênero sertanejo e gospel que monopolizavam o dial local, então colocava para tocar na estação clandestina seus discos de bandas como Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. A experiência durou pouco, mas deu indícios da vocação empreendedora, que voltou a aparecer depois que se formou em engenharia da computação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e montar ao lado de amigos uma produtora de jogos de videogames.
Ao ouvir as aspirações empreendedoras do amigo, Gabriel se identificou: também almejava construir algo que impactasse um enorme número de pessoas. Os dois acharam boa a ideia de trabalharem juntos. A dúvida era: fazendo o quê?
Para encontrar a resposta, fizeram um exercício. Em um fim de semana, reservaram uma pequena sala de reunião na universidade e começaram a rabiscar num quadro branco. Não anotaram que tipo de empresas poderiam inventar, fizeram o caminho contrário. Procuraram quais problemas iriam atacar – os entraves e aborrecimentos cuja solução teria consequências positivas sobre a vida de muita gente. Então, escreveram a questão a ser respondida: “O que enche mais o saco?”
O item “alugar um imóvel” logo apareceu. Só de pensar na romaria de procurar uma nova casa dá vontade de desistir da mudança, concluíram. Ou seja, era um tema com potencial para inovação “disruptiva” – aquela que não apenas incrementa o que existe, mas muda o mercado e os hábitos de consumo. A partir de outra pergunta, começaram então o próximo passo: “Por que o aluguel é uma merda?” As primeiras respostas vieram logo: arranjar um fiador, cuidar da papelada, marcar horário com corretor.
Saindo dali, a dupla criou uma pesquisa online, distribuída entre amigos e amigos de amigos, para que relatassem, em cada uma das etapas da locação, quais eram os fatores de alegria e de raiva, de expectativa e de potencial decepção. Era um exercício de design thinking, que mapeia a experiência do cliente ao longo de toda a jornada de consumo como base para melhorá-la.
O QuintoAndar demorou quatro anos para começar a provar essa sopa de letrinhas, que são as diferentes etapas de aportes de investidores. A sonhada rodada da série A, liderada pela Kaszek Ventures, só veio em maio de 2016: US$ 7 milhões. Havia tanta coisa a fazer com a bolada que não houve comemoração. “A gente logo se sentou para trabalhar. Não somos muito de festa”, diz André.
No final do mesmo ano de 2016, a startup passou enfim a bancar o seguro-fiança das transações, um passo desde sempre considerado fundamental para se diferenciar. Locadores e locatários celebraram a novidade. Outra iniciativa também crucial teve recepção diferente. Quando anunciaram que os contratos seriam fechados digitalmente, sem o processo dos cartórios, dois terços dos proprietários removeram seus imóveis do site. Os candidatos a inquilino, por sua vez, festejaram a novidade, a ponto de o número total de negócios fechados ter crescido, mesmo com a diminuição drástica de opções.
A partir daí, a empresa ascendeu rápido. Com uma tabela que embolsa integralmente o primeiro aluguel mais um percentual nos meses seguintes, dependendo da região – a mordida cai se as casas e apartamentos forem anunciados exclusivamente no QuintoAndar –, já atuava em 25 cidades brasileiras e fechava cerca de 4.500 tratados por mês quando recebeu um investimento de US$ 250 milhões. Com Softbank, General Atlantic, Kaszek e Dragoneer como investidores, os mineiros alcançaram a série D, e o Quinto Andar se tornou um unicórnio em setembro de 2019.
Capítulo 2 – A ideia “genial” que não vale nada (Movile, iFood)
Na Endeavor, a cobiçada fundação de apoio a negócios em fase de ganho de escala (as já citadas scale-ups), o diretor de apoio a empreendedores Igor Piquet diz aos mais ansiosos: “Nós temos um algoritmo para medir o valor de sua ideia”. O interlocutor se anima ao ouvir essa frase, antes de levar o balde de água fria: “É simples: a ideia não vale nada”.
O que realmente tem valor, explica Igor, é a execução dessa ideia, a ser traduzida em diversos itens: o empenho em descobrir a tal “dor” do cliente, a contratação do time certo, a disposição de testar cada novo recurso e de recuar, e características pessoais, como obsessão e ter casca grossa para aguentar os trancos.
Um dos unicórnios mais festejados por profissionais de tecnologia, a Movile (holding que reúne plataformas digitais) já foi estudada por pesquisadores de universidades como Harvard e Stanford, que escreveram cases sobre a companhia. Para o grande público, porém, é um nome pouco sonoro, bem menos conhecido que o das empresas que estão sob seu guarda-chuva. A maior delas é o iFood, por si só um unicórnio, e há também a Sympla (venda de ingressos online), a Zoop (soluções de pagamento), o Playkids (aplicativo de desenhos e joguinhos educativos para crianças), entre outras.
Esse conceito foi incorporado depois de caldos, afogamentos e mortes na praia. Em 2012, Eduardo Lins Henrique, cofundador da Movile, se instalou no Vale do Silício para se conectar com as tendências do maior polo de inovação do mundo (título hoje disputado com a China). Tinha uma equipe de cinco pessoas e um orçamento modesto. Foi o ano da compra do Instagram pelo Facebook, e o time decidiu seguir a onda e criar o Photo Fun, que personalizava imagens de celular com molduras e legendas divertidas. Fracasso total.
Andreas Blazoudakis, então sócio da Movile, teve a ideia de usar de duas formas a estrutura criada nesse aplicativo de vídeos [Zeewe TV]. De um lado, conseguiram vender para a Claro o produto Claro Minha TV, uma espécie de Netflix, na qual assinantes podem assistir a conteúdos licenciados. Em outra frente, pegariam a “casca do Zeewe TV” e lançariam aplicativos segmentados de canais audiovisuais, providenciando apenas o mínimo de desenvolvimento para cada um deles. É o conceito dos MVP (minimum viable projects, ou produtos minimamente viáveis), feitos para testar a aceitação dos clientes e só depois disso aperfeiçoados.
O que deu certo para Eduardo, enfim, foi uma plataforma taxada como sinistra por alguns conhecidos, chamada Coroas para Velório. O conceito surgiu depois que ele achou complicada a compra de arranjo fúnebre no velório de seu avô. Pôs cadastro de floriculturas de todo o Brasil no site de vendas.
Eduardo não imaginava que o grande potencial do negócio não seriam parentes e amigos enlutados, mas os clientes corporativos. Agora que o ovo está parando em pé na mesa, parece óbvio: o e-commerce resolve um problemão nos setores de compras de companhias robustas. Elas não precisam mais se acertar com uma floricultura de todo canto do Brasil a cada morte de funcionário, parceiro ou familiar próximo de sua rede de relacionamento. Ao ser cadastrado como fornecedor em instituições cheias de funcionários, Eduardo consegue um trunfo que não obteria com consumidores comuns: a recorrência de compra.
Em 2019, o faturamento foi de R$ 19,2 milhões, incluindo aí o site Laços Corporativos, como produtos mais agradáveis (como presentes para bebês recém-nascidos ou para o Dia da Secretária), destinados ao mesmo público empresarial. No ano seguinte, a quarentena imposta pela covid-9 chegou a aumentar a demanda em cinquenta por certo – impedidos de comparecer a velórios, muitos amigos e colegas optavam pelo envio de coroas para representá-los. Na mesma época, a plataforma mudou de nome para Laços para Sempre, a fim de criar uma marca um pouco mais sutil e menos genérica diante da disseminação de concorrentes.

Capítulo 3 – O cliente tem uma ideia melhor (Gympass)
O ano de 2014 se mostrou tenso no Brasil do começo ao fim, com o marasmo na economia, a humilhante performance da seleção na Copa do Mundo e uma eleição presidencial raivosa, disputada voto a voto. Em um escritório na zona sul de São Paulo, Cesar Carvalho, João Thayro e Vinicius Ferriani, sócios no Gympass, viviam seu sete a um particular.
Quando foi fundado por eles, dois anos antes, o negócio parecia perfeito. Conheciam muita gente presa a longos contratos com as academias de ginástica que pouco ou nunca frequentavam. Seria bem aceito, portanto, um sistema no qual o cliente compra pela internet passes avulsos para treinar a qualquer hora, sem necessidade de matrícula ou mensalidade. Para o consumidor, era um nível inédito de liberdade. Para as academias, uma nova chance de receita e a possibilidade de fidelizar a freguesia depois dessa degustação.
Com uma pastinha na mão, eles percorreram bairros paulistanos em busca de espaços fitness que aderissem ao Gympass. Levaram uma semana para convencer o primeiro. Aos poucos, pegaram o jeito de venda e já tinham sessenta estabelecimentos ao final do trimestre de férias. Valeria seguir em frente? O modelo da empresa estava validado?
O Gympass não dispunha de um produto corporativo, mas logo enxergou a oportunidade. Imagine ganhar centenas ou milhares de pessoas numa tacada só, pensaram. As negociações seguiram com o diretor de Recursos Humanos da PwC na época, Marcel Sartori. A adesão dos funcionários foi boa, fez triplicar o número de usuários, e as academias próximas aos escritórios de consultoria mostraram entusiasmo: enfim, receberam um público diferente. A startup tinha parado de pregar para convertidos, trazendo um valor real na cadeia: gente nova, dinheiro novo.
Estava claro: o caminho era atuar no modelo B2B (Business to Business, empresa para empresa), e não B2C (Business to Consumer, empresa para consumidor final). A negociação com a multinacional Multilever levou nove meses. Diante da perspectiva de ter uma firma desse tamanho, foi possível fechar com uma rede badalada, a Companhia Athletica. Ficou definido o modelo de negócio como é hoje: o empregador paga um valor fixo conforme seu porte e cada profissional pode aderir a planos de diferentes níveis com um grande desconto. O Gympass remunera a academia a cada visita dos usuários.
O Gympass recebeu mais uma grande injeção de dinheiro em 2019. Foram US$ 300 milhões em uma rodada liderada pelo Softbank, que trouxe de brinde o status de unicórnio. Mesmo antes de ficar com o corpo dos sonhos em território nacional (o aplicativo, por exemplo, ainda tem muito a ser aperfeiçoado), a startup decidiu que havia um mundo a desbravar e chegou a países da América Latina, da Europa e aos Estados Unidos. No início de 2020, já eram 52.900 academias em catorze nações, menos da metade delas (23.100) no Brasil.
Capítulo 4 – A alquimia da sociedade ideal (Ebanx, Loggi, Nubank)
Quando o curitibano Alphonse Voigt pulou de paraquedas sobre a praia de Paranaguá, do alto de 3 mil pés e da experiência de cerca de mil saltos realizados com sucesso, era grande o peso emocional em suas costas.
O paraquedas era desses modelos curtos e rápidos, destinado a saltadores experientes como ele. Abriu normalmente, como em todas as outras vezes em que havia pulado. Deveria apenas manobrar o artefato e aterrissar sobre o alvo pretendido. Na hora do pouso, porém, algumas cenas de aglomeração perto do local escolhido o distraíram e ele não conseguiu acionar o sistema de frenagem adequadamente. Chocou-se direto contra o chão, a 120 quilômetros por hora. A sensação foi de tragédia.
Foi andando com dificuldade que Alphonse entrou em uma aula sobre desenvolvimento mental, a partir de reflexões de pensadores a exemplo de Pitágoras, Sócrates e Platão, em 2007. Como se tornou apresentador de programas esportivos na TV paranaense, devido ao vigoroso carisma, era um rosto conhecido dos presentes na sala. Mas não para o professor Wagner Ruiz, que vinha de São Paulo. Economista formado pela Universidade Mackenzie e empreendedor serial, Wagner era autodidata nos estudos de filosofia. Os dois se deram bem e, tempos depois, se juntaram a outros sócios na Astropay, processadora de apostas em jogos de pôquer.
Como trabalharam bem juntos, Alphonse pensou logo no nome de Wagner quando teve a ideia de montar em 2012 o Ebanx, uma empresa de tecnologia que processa compras de consumidores brasileiros em sites estrangeiros, sejam elas feitas por cartão de crédito, débito ou boleto bancário.
A lista de “princípios do Ebanx” (sonho grande, orientação a resultados, comprometimento, persistência e conhecimento), da qual todos comungam, cada um personifica com mais precisão um deles. Alphonse é o “sonho grande”; João, a “orientação a resultados”; Wagner, o “comprometimento”.
Uma das principais dúvidas foi abrir ou não as portas para um fundo de investimento, algo que demoraram a fazer — outra singularidade da fintech curitibana. A maioria das empresas desse meio sonha com aportes graúdos para poder dar saltos, mas o Ebanx era lucrativo desde o início e não havia nenhum desespero de capital.
Mais que o dinheiro, o know-how externo poderia ajudar no crescimento. Além disso, vender uma fração da companhia significa colocar um bom dinheiro no bolso. O ousado Alphonse era favorável. João e Wagner, a princípio, tinham reservas à ideia. Só no OK de todos é que fecharam a rodada de US$ 30 milhões liderada pelo FTV Capital em janeiro de 2018.
Em outubro de 2019, o Ebanx anunciou que o mesmo fundo fez um novo aporte, no qual a empresa acabou “valorada” em US$ 1 bilhão. Ou seja, virou um unicórnio, mas não revelou que valor era esse. Foi algo em torno de US$ 50 milhões por cerca de 5% da companhia. Os fundadores seguiram com aproximadamente 75%.
Acostumado a cavar oportunidades desde cedo, David Vélez alimentava o sonho de empreender ao se mudar da Colômbia para o Brasil em 2008, copartner da investidora Sequoia Capital. As reuniões com os empresários para tratar dos aportes que faria eram invariavelmente frustrantes, pois o tempo todo sentia vontade de estar do outro lado da mesa, o dos donos de negócios, com a mão na massa. Enxergou na burocracia brasileira um lugar perfeito para desbravadores: penou até conseguir comprar uma linha de celular pós-pago e teve de adiantar doze meses de pagamento antes de fechar a locação de um apartamento em Moema.
A conversa com Cristina Junqueira fluiu de forma bem diferente. Profissional detalhista, apaixonada pelo alto padrão de atendimento da Disney e por montar quebra-cabeças, ela é formada em engenharia de produção pela USP, com mestrado na mesma instituição e MBA na Universidade de Northwestern. Ela entrou como parceira de um novo banco, o Nubank.
O Sequoia, que conhecia David como funcionário, fez os primeiros investimentos no Nubank ao lado da Kaszek Ventures. Em julho de 2013, aportaram US$ 2 milhões de capital semente e, passados treze meses, US$ 15 milhões na série A. A função do dinheiro era implantar e depois escalar o negócio.

Capítulo 5 – Nus com a mão no bolso (Nubank)
A primeira sílaba de Nubank soa como new, “novo” em inglês, mas a intenção primordial é que seja o sinônimo de pelado, sem roupas. Os fundadores da Nu Pagamentos S.A. (razão social da fintech) queriam que a startup criada em 2013 fosse conhecida por oferecer um serviço despido de complicações e dados difíceis de entender.
Poucas situações exemplificam tão bem essa disposição para a transparência quanto a resposta enviada pela cofundadora Cristina Junqueira ao e-mail de um cliente quando a startup estava começando. Ela começava pedindo desculpas pela demora em responder e justificava: havia dado à luz a primeira filha no dia anterior e ainda repousava na maternidade.
O Nubank foi uma marca recebida com simpatia desde a sua fundação. Em parte, por recursos digitais, como aumentar o limite do cartão de crédito por aplicativo, mas também pelo atendimento telefônico “humanizado”. O modelo é inspirado no e-commerce Zappos, sediado em Las Vegas, que tenta criar um contato “emocional” com os consumidores. A empresa americana coleciona histórias, como o dia em que um atendente mandou uma pizza para alguém que esperava pela solução do seu problema e também o casal de clientes tão fanático pela companhia a ponto de se casar em seus escritórios.
O ano de 2016 foi espetacular para o Nubank, com as rodadas de investimento C e D (US$ 52 milhões e US$ 80 milhões, respectivamente) pela inclusão de fundos como Founders Fund, Tiger Global Management e DST Global. O número de clientes saltou de 150 mil para 1 milhão.
No dia 15 de dezembro daquele ano, um pacote de desburocratização anunciado pelo Banco Central colocou água no chope da companhia. Uma das medidas era a exigência de repassar a comerciantes o valor das compras de cartão de crédito em até dois dias em vez de trinta. O problema, argumentavam os sócios, é que, em média, os consumidores demoram 26 dias para serem debitados em suas compras por cartão e o 1,5 por cento que a plataforma mordia a cada compra seria insuficiente para custear essa antecipação. Seria o fim da startup, diziam.
Cristina Junqueira deu entrevistas alertando que o Nubank poderia acabar. Nas redes sociais, o público se queixou. Ser uma marca com fãs, nessa hora, fez toda a diferença. Por cerca de duas horas, David e sua equipe explicaram os riscos para Ilan Goldfajn e cerca de quinze técnicos do órgão. “Por mais que parecesse uma medida boa para os pequenos varejistas, seria tão ruim para a concorrência que possibilitaria aos maiores bancos aumentar a tarifa”, argumentou.
Saiu de lá com a promessa de que a regra havia morrido e, na mesma tarde, anunciou a boa nova em uma reunião com os funcionários. Agora, sim, era possível celebrar. Estava aberto o caminho para o ex-inquilino da rua Califórnia se tornar um unicórnio, em fevereiro de 2018, após rodada de investimentos de US$ 150 milhões, e depois o primeiro decacórnio do país, avaliado em US$ 10 bilhões, com aporte de US$ 400 milhões, em julho de 2019.
Capítulo 6 – Um novo ouvinte na rádio-peão (Arco Educação)
A única representante do Nordeste entre os unicórnios brasileiros traça um caminho ao contrário, em uma história iniciada um século atrás. É a Arco Educação, grupo de sistemas de ensino que se desenvolveu como startup.
Ao replicarem apostilas, exercícios e métodos em diversas escolas, sistemas de ensino são por natureza um negócio repetível e escalável, duas palavras obrigatórias para conceituar uma startup. Mas foi por outra palavra fundamental, a tecnologia, que a Arco Educação conseguiu se diferenciar. A empresa tem grande foco nos elementos digitais, que vão de videoaulas ao uso de realidade aumentada em atividades, passando por softwares de gestão – para acompanhar, por exemplo, os pontos de dificuldade da turma por meio da análise dos resultados dos exercícios. Por essa razão, suas ações são negociadas na Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia sediada em Nova York.
A árvore mais alta que se ergueu a partir do legado do patriarca Ari de Sá Cavalcante foi plantada pelas mãos de Ari de Sá Neto, um dos cinco filhos de Oto. Formado em administração, com dois anos de atuação na consultoria Ernst & Young e alguns outros ao lado do pai, ele voltou de um MBA disposto a dar escala, de alguma forma, à excelência do centro de ensino comandado pelo pai. Depois que um professor de outra escola particular o procurou querendo comprar as apostilas para suas turmas, Ari percebeu que o potencial estava no conteúdo. Criou, em 2007, o sistema Ari de Sá (SAS), baseado nos fundamentos de aprendizado do colégio, que se notabilizou não só pelo material com complementos digitais, mas por múltiplas assessorias, de gestão a marketing. Essa plataforma daria origem mais tarde ao grupo Arco Educação, que viria a incluir outras empresas, como a SAE Digital e a International School.
Criada no início de 2018, com sede na rua Augusta, em São Paulo, a Arco Educação mantém o mesmo espírito. Todo mundo trabalha em sessões compartilhadas, inclusive Ari, que não tem nem secretária exclusiva.
Oto de Sá Cavalcante segue despachando diariamente na principal unidade do colégio, um colosso arejado de 50 mil metros quadrados, a despeito de possuir 34,8 por cento das ações da Arco. Ari de Sá Neto tem 15,7 por cento, o investidor General Atlantic, 9,1 por cento, os executivos somam 0,7 por cento, e o restante são as ações negociadas na Nasdaq, em Nova York.

Capítulo 7 – Na saúde e na doença (99)
Perto do Natal, o aplicativo 99Taxis tinha menos da metade do total de corridas do maior concorrente, a Easy Taxi. Depois do réveillon, porém, o jogo começou a virar. Logo no início de fevereiro, o fundo Tiger Global liderou, enfim, um investimento de US$ 5 milhões. Em abril, vieram mais US$ 25 milhões.
Era motivo de comemoração para a empresa criada em 2012, numa sociedade que quase não aconteceu. O paulistano Renato Freitas e o argentino Ariel Lambrecht eram amigos desde os tempos da Escola Politécnica da USP, na qual se formaram em engenharia mecatrônica. Juntos, fundaram, na era do Orkut, o Ebah, uma rede social para compartilhamento de conteúdo acadêmico que teve mais repercussão do que êxito empresarial. Ainda assim, a dupla de empreendedores chamou a atenção da Endeavor, da qual Paulo Veras foi diretor-geral no Brasil entre 2004 e 2009. Antes de ocupar o posto, Paulo criou startups em setores variados, inclusive no de compras coletivas. Renato e Ariel tinham a ideia de criar um aplicativo para pedir táxi no Brasil e imaginaram que ele seria um CEO adequado, com estofo para liderar o negócio.
Ariel havia conhecido na Alemanha o My Taxi, o primeiro app do mundo nesse segmento. Paulo, prevendo que mais de uma dúzia de iniciativas semelhantes apareceriam no mercado, não quis conversa.
Os jovens insistiram, e ele acabou topando um esquema de mínimo custo, no qual conciliaria as tarefas com outros projetos que estava tocando (a pulverização, a princípio, espantou alguns investidores). Cada sócio desembolsaria R$ 3 mil para bancar os primeiros seis meses. Ariel e Renato desenvolveram o app usando a mesma casa que abrigava o Ebah – às vezes trabalhavam em notebooks deitados na rede do quintal.
Na manhã de oito de junho, a euforia chegaria ao auge. A agência Africa, de Nizan Guanaes, apresentaria a campanha publicitária com o slogan “99 é Só Love”. Era um salto grande, para o qual haviam sido reservados cerca de R$ 15 milhões, que Nizan topou usar de forma cirúrgica. Tratava-se de uma quantia baixa para o alcance pretendido pela empresa, mas as pesquisas encomendadas pela agência mostravam que o vento estava a favor. O serviço conquistou boa aceitação dos usuários, que consideravam a marca cool.
Paulo, nesse ínterim, caiu doente. Exames mostraram que seu tipo de câncer era uma leucemia. O tratamento durou pouco mais de um semestre. No leito do hospital, ele trabalhava quase normalmente, lendo e-mails, fazendo muitas reuniões por Skype e algumas presenciais. A ideia de fazer do hospital um escritório ajudou a manter a cabeça de Paulo mais ocupada.
A nove quilômetros de carro dali, na Avenida dos Bandeirantes, a saúde da empresa, sob comando do CEO enfermo, ia muito bem. A campanha criada pela agência de Nizan Guanaes foi um sucesso. A experiência de marketing do Botafogo foi estendida para dez times no país, cerca de R$ 5 milhões no total, um valor pequeno para esse campo. Houve casos em que o clube pediu R$ 4 milhões pela manga, mas topou receber R$ 500 mil.
Em São Paulo, o time escolhido foi o Corinthians. No final do ano, os sócios da 99 comemoraram bons resultados fazendo um paralelo com o ótimo 2015 do alvinegro, que numa performance brilhante, ganhou o Campeonato Brasileiro com boa sobra de pontos. Na hora de o time levantar a taça, lá estava o logo amarelo da 99 estampado no ombro. Ao mesmo tempo, o troféu de maior app de táxis, antes empunhado pela Easy Taxi, havia passado para as mãos do trio.
Capítulo 8 – O casamento dos sete anões (Movile)
Quem baixava Ringtones, se divertia com joguinhos, mandava mensagens de vídeo ou respondia a quizzes pelo celular nos anos 2000 possivelmente estava consumindo alguns dos produtos da Compera, fundada em Campinas, ou da NTime, do Rio de Janeiro. Ambas operavam no mesmo setor, não como concorrentes, mas com negócios complementares, em um mercado de informação e entretenimento que ainda era só mato se comparado às possibilidades trazidas depois pelos smartphones.
A chegada iminente de rivais europeus ao Brasil, bem mais capitalizados, começou a tirar o sono dos jovens empreendedores. Um assunto, portanto, inevitável, quando, em 2006, Rafael Duton, da NTime, encontrou Fabrício Bloisi, CEO da Compera, na tradicional feira de telefonia móvel de Barcelona – atualmente chamada de Mobile World.
De volta ao Brasil, Fabricio seguiu conversando com Marcelo Sales, CEO da NTime, e a ideia de uma fusão ganhou consistência. Para selar o casamento, chegava ao território brasileiro um investidor-chave, o grupo de mídia sul-africano Naspers, que achou boa a ideia da união. Cada lado já tinha seus produtos e, juntos, poderiam construir um “ecossistema de tecnologia”. “Se juntarmos esses sete anões, temos uma história”, disse um dos consultores da Naspers no Brasil na época.
Fabrício era um gestor de tato para lidar com investidores e acabou aclamado como CEO, ainda que com certo atrito com Marcelo, que se tornou o COO. Também seguiram no empreendimento Fábio Póvoa, do lado da Compera, e Rafael Duton, Leonardo Sales, Leonardo Constantino, Arthur Santos e Fábio Freitas, da NTime.
A história de sucessivas fusões e aquisições da Movile fez com que ela se tornasse um unicórnio diferentão no cenário brasileiro, uma espécie de bicho com muitas cabeças, que não se contenta com apenas um segmento de mercado – quer ser onipresente no smartphone dos usuários.
Desde meados dos anos 2000, seu diferencial já era a enorme variedade de recursos que, somados, transformavam simples celulares tijolões em centrais de negócios ou de entretenimento. Mesmo antes do surgimento do iPhone, suas soluções permitiam votar nos paredões do Big Brother Brasil ou organizar tarefas corporativas.
O sonho declarado da Movile é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas – praticamente um em cada oito habitantes da Terra. Para isso, seus líderes costumam repetir: “O que nos trouxe até aqui não é o que nos levará até lá”. A maior tradução desse pensamento foi eleger um nome de fora da tradição da Movile para substituir Fabrício Bloisi como CEO do grupo em 2020, quando este passou à presidência do conselho e seguiu como CEO do carro-chefe iFood. Mesmo em meio a talentos internos, o escolhido foi Patrick Hruby, que havia entrado na Movile poucos meses antes.

Capítulo 9 – Alcatra, arroz, feijão e suco (iFood)
Sidney, Austrália, início do ano 2000. Um paulistano de 23 anos, poucos trocados no bolso e um nome que vale por três – Carlos Eduardo Moyses – dá a partida em uma lambretinha vermelha de cinquenta cilindradas que não vale quase nada, no pátio da unidade da Pizza Hut na região da praia Manly, debaixo de chuva forte, para fazer uma entrega.
São Paulo, Brasil, 23 de janeiro. Devanir da Silva, 31 anos, deixa o restaurante Dona Jú, na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Butantã, em São Paulo. Está em sua Honda Fan 150, com uma mochila quadrada nas costas, carregando um pedido feito pelo aplicativo iFood.
Em 2009, os amigos Felipe Fioravanti, Patrick Sigrist, Eduardo Baer, Guilherme Bonifácio, egressos da empresa júnior da FEA, deixaram seus bons empregos em consultorias ao redor do mundo para se aliar ao empresário Patrick Eberhardt, principal sócio do Disk Cook, com o objetivo de modernizar o modelo. A evolução foi lenta, até que, dois anos depois, parte do grupo decidiu tirar do papel a ideia do iFood, com um conceito diferente: criar uma plataforma digital (inicialmente um site) que conecta clientes, restaurantes e motociclistas. O Disk Cook ainda demoraria mais um pouco para abolir seu atendimento telefônico.
No começo do iFood, as solicitações dos usuários chegavam ao restaurante impressas em um maquininha igual às de pagamento por cartão, readaptada para essa função. Só mais tarde, as ordens passaram a aparecer num aplicativo específico.
O iFood, em paralelo, surpreendeu com alguns golaços. O primeiro foi apostar no desenvolvimento de um aplicativo para celular, quando poucos brasileiros dispunham de smartphones, saindo assim na frente no modelo que se tornaria padrão.
O outro combustível foi o investimento de R$ 5,5 milhões feito pela Movile, em troca de um terço do aplicativo. Fontes próximas ao negócio relatam que a Naspers, investidora da Mobile, era contrária à aquisição, mas foi convencida pelos executivos brasileiros.
A guerra dos tronos só acabou em 2016: o IFood, maior e famoso por propagandas estreladas por celebridades como o ator Fábio Porchat, comprou o HelloFood. Virou a Netflix dos apps de comida, mantendo os concorrentes Uber Eats e Rappi a uma distância considerável (mais de setenta por cento do mercado, segundo relatório da Just Eat em novembro de 2019).
Em agosto de 2019, o iFood passou pela primeira vez de 20 milhões de pedidos mensais. Nessa época, Carlos já estava num processo de transição do cargo de CEO para o chefe Fabrício Bloisi, o número um da Movile, oficializada em novembro, quando o total de pedidos mensais chegou a 26,6 milhões. Assumiu então como vice-presidente corporativo, com uma responsabilidade prioritariamente internacional: a expansão para o restante da América Latina.
Capítulo 10 – Quero trabalhar aqui (Stone)
A empresa de meios de pagamento, a fintech Stone, é mais conhecida pelas maquininhas verdes de cartão, mas, a partir delas, oferece serviços digitais, como ferramenta de gestão de negócios e fidelização de clientes e empréstimos para estabelecimentos comerciais a juros baixos, aproveitando as vantagens de estar conectada diretamente ao duto de entrada de dinheiro nos negócios e ter assim acesso aos dados do caixa da companhia. Além disso, tem uma série de serviços digitais pelos quais passa o pagamento online de boa parte do e-commerce brasileiro.
A seleção de trainees semestral é uma das maiores do Brasil. Foram 70 mil candidatos nessa edição. Mas há outras características mais impressionantes no Recruta, uma peneira para lá de diferentona, por uma série de aspectos esquisitos à primeira vista, mas que vão se justificando à medida que o dia escurece.
O encontro no Novotel Itu Golf & Resort é uma espécie de confinamento. Os finalistas passam três dias dormindo no hotel, onde estudam os projetos a serem apresentados. São ideias de negócios para a própria Stone, seguindo as orientações passadas dias antes.
Durante todo o dia, os candidatos ficarão num vaivém entre a sala lotada e áreas isoladas do hotel, conduzidos por produtores do evento. Depois de cada uma das etapas com a presença deles, acontece o debriefing no auditório.
Debriefing, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, é o termo que designa o relatório oral feito pelos oficiais ao final de cada missão, muitas vezes detalhando informações sobre o inimigo. Na tradução do Recruta: após a participação dos finalistas nos diferentes desafios do dia, toda a delegação de funcionários deverá falar a respeito do desempenho deles não como inimigos, mas com rigor.
Já viram seleção de emprego com lista de livros, tal qual um vestibular? Em uma das etapas mais originais da triagem, há sete títulos à escolha do candidato. Nessa edição, foram de Empresas feitas para vencer, do guru de negócios Jim Collins, a Por que fazemos o que fazemos, do filósofo Mário Sérgio Cortella. O objetivo aqui é ler, entender, interpretar e estabelecer conexões entre os conceitos apresentados e as próprias crenças.
Resenha: Rogério H. Jönck

Ficha técnica:
Título: Da ideia ao bilhão
Autor: Daniel Bergamasco
Primeira edição: Portfólio Penguin