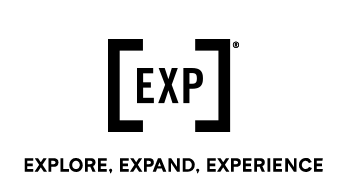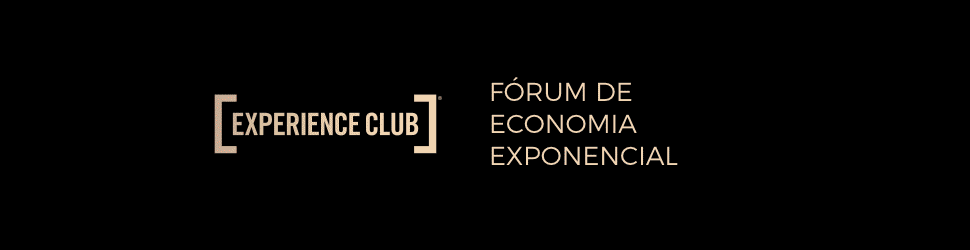As reflexões do Prêmio Nobel de Economia, Jean Tirole, sobre os incentivos que ajudam a definir comportamentos que podem ir de encontr aos interesses coletivos dentro de uma sociedade
Ideias centrais:
1 – Beneficiar-se das virtudes do mercado requer muitas vezes afastar-se do laissez faire. Os economistas consagraram grande parte de suas pesquisas à identificação das falhas de mercado e à sua correção pela política pública. São favoráveis ao mercado, mas visto como um simples instrumento e nunca como fim em si mesmo.
2 – De medíocre administrador de empresas, o Estado passa a regulador. Assume todas as responsabilidades ali onde os mercados são incompetentes, para criar uma verdadeira igualdade de oportunidades, uma concorrência saudável, defesa do meio ambiente.
3 – Pode ocorrer que o preço de um ativo financeiro não ser igual a seu verdadeiro valor. Uma das causas dessa defasagem é a existência de uma bolha. Ela existe quando o valor de um ativo financeiro excede o “fundamento” do ativo. Taxas de juros baixas são terreno propício a bolhas financeiras.
4 – Para evitar totalmente as crises, cumpriria refrear tomadas de risco e inovação e viver no curto prazo, em vez de investir no longo prazo. A questão não é a eliminação completa das crises e, sim, uma caçada aos incentivos que estimulam agentes econômicos a comportamentos nocivos para o resto da economia.
5 – Benefícios da concorrência: a abertura à concorrência das importações na Europa mudou drasticamente a organização e a produtividade. Renault e Peugeot Citroën aumentaram nitidamente sua eficiência com relação às melhores práticas internacionais.
Sobre o autor:
Jean Tirole foi contemplado com o Prêmio Nobel de Economia (2014) e a medalha de ouro do CNRS (2007), entre outras distinções. É presidente honorário da Toulouse School of Economics e presidente do Institute for Advanced Study on Toulouse e também professor visitante do MIT.

Introdução
Definir o bem comum, aquilo a que aspiramos para a sociedade, requer, ao menos em parte, um juízo de valor. Esse juízo pode refletir nossas preferências e nosso grau de informação. Bem como nossa posição na sociedade. Mesmo concordando quanto ao bom propósito de tais objetivos, podemos avaliar diversamente a equidade, o poder de compra, o meio ambiente, o lugar atribuído ao nosso trabalho ou à nossa vida privada. Sem falar em outras dimensões, como os valores morais, a religião ou a espiritualidade, a cujo respeito as opiniões podem divergir profundamente.
Este livro, portanto, parte do seguinte princípio: todos nós, seja qual for nosso lugar na sociedade, sejamos políticos, líderes empresariais, assalariados, desempregados, trabalhadores autônomos, funcionários graduados, agricultores, pesquisadores, todos nós reagimos aos incentivos aos quais somos expostos. Esses incentivos – materiais ou sociais – e nossas preferências combinados definem o comportamento que adotamos, um comportamento que pode ir de encontro ao interesse coletivo. Eis por que a busca do bem comum passa em grande parte pela construção de instituições visando, na medida do possível, conciliar o interesse individual e o interesse geral. Nessa perspectiva, a economia de mercado não é em absoluto um fim em si. Ela não passa de um instrumento; e não só isso, um instrumento bastante imperfeito, se levarmos em conta a divergência possível entre o interesse particular dos indivíduos, dos grupos sociais e das nações, e o interesse geral.
O livro se desdobra em torno de cinco grandes temas. O primeiro diz respeito à relação da sociedade com a economia como disciplina e paradigma. O segundo é dedicado à profissão do economista, desde sua vida cotidiana na pesquisa até seu envolvimento político. Nossas instituições, Estado e mercado, estão no centro do terceiro tema, que as ressitua em sua dimensão econômica. O quarto tema traz elementos de reflexão sobre quatro grandes desafios macroeconômicos, que estão no cerne das preocupações atuais: o clima, o desemprego, o euro, as finanças. O quinto tema abrange um conjunto de questões microeconômicas que, sem dúvida, encontram menos eco no debate público, mas que são essenciais para nossa vida cotidiana e para o futuro de nossa sociedade, agrupadas sob o título “A questão industrial”, incluem a política da concorrência e a política industrial, a revolução digital – seus novos modelos econômicos e desafios societários –, a inovação e a regulação setorial.
ECONOMIA E SOCIEDADE
Há vinte anos, os Estados Unidos, assim como a maioria dos países, recorrem a leilões para conceder as licenças. A experiência mostra que leilões representam um meio eficaz de se certificar de que as licenças são concedidas aos atores que as valorizam mais, ao mesmo tempo recuperando para a coletividade o valor do recurso escasso, o espectro. Por exemplo, os leilões de espectro radioelétrico nos Estados Unidos depois de 1994 proporcionaram cerca de US$ 60 bilhões ao Tesouro americano, dinheiro que de outra forma teria ido sem motivação alguma para a carteira de atores privados. A participação dos economistas na concepção desses leilões contribuiu muito em seu sucesso financeiro para o Estado.
Além disso, no exercício de sua missão definida stricto sensu, os economistas não são isentos de críticas. Eles devem desenvolver esforços para construir um ensino pragmático e intuitivo, fundado nas problemáticas modernas dos mercados, das empresas e da decisão pública, baseando-se não só num quadro conceitual seguro e simplificado com fins pedagógicos, como na observação empírica. O ensino de pensamentos econômicos obsoletos e de debates entre economistas antigos, o discurso pouco rigoroso ou, inversamente, a matematização exagerada do ensino não correspondem às necessidades dos estudantes do ensino médio e universitários.
A grande maioria dos franceses que fazem cursos superiores se especializa após o baccalauréat. Um absurdo, claro: como é possível aos dezoito anos decidir ser economista, sociólogo, advogado ou médico, quando não se teve nenhum ou quase nenhum contato com a disciplina? Sem falar no fato de que as vocações podem chegar tardiamente. A especialização prematura dos estudantes implica também que muito poucos fazem um curso de economia. Ao passo que os estudantes de todas as disciplinas deveriam fazer um curso de economia, mesmo que não voltem a ele na sequência. Decerto, ao contrário de seus pares que ingressam na universidade, os alunos das grandes écoles têm a sorte de poderem adiar suas escolhas. Mas eles representam uma pequena minoria do ensino superior e sua abertura para novos domínios, entre eles a economia, costuma acontecer bem tarde.
A qualidade dos economistas franceses não data de hoje. A novidade com relação às gerações anteriores é a mobilidade. Entre os sete apontados pelo FMI, cinco vivem nos Estados Unidos e uma (Hélène Rey) na Inglaterra; e um único (Thomas Piketty) vive na França. Isso é um motivo de preocupação, pois, deixando de lado o reconhecimento da qualidade da formação francesa, trata-se para nosso país de uma verdadeira perda de capital humano. Muitos de nossos pesquisadores mais dinâmicos e formados dispendiosamente pelo Estado se exilam. Em nosso mundo globalizado, não faz sentido apedrejá-los por isso. Eles são cidadãos do mundo. Cabe a nós lhes oferecer condições de pesquisa equivalentes às que prevalecem nos grandes países de pesquisa. Nossa capacidade de existir na economia do século XXI dependerá da atratividade de nossos centros de pesquisa, tanto em economia como nos outros domínios científicos.
Mas como este livro pretende mostrar, beneficiar-se das virtudes do mercado requer muitas vezes afastar-se do laissez-faire. Na realidade, os economistas consagraram grande parte de suas pesquisas à identificação das falhas de mercado e à sua correção pela política pública: direito de concorrência, regulação pelas autoridades setoriais e prudenciais, taxação das externalidades ambientais ou de congestionamento, política monetária e estabilização financeira, mecanismos de fornecimento dos bens tutelares como a educação e a saúde, redistribuição de renda etc. Diante dessas sutilezas, a imensa maioria dos economistas é, pelas razões enunciadas acima, favorável ao mercado, visto como um simples instrumento e nunca como um fim em si.

Os especialistas nas outras ciências sociais (filósofos, psicólogos, sociólogos, advogados e cientistas políticos…), uma grande parte da sociedade civil e a maioria das religiões têm uma visão diferente do mercado. Embora reconhecendo suas virtudes, eles costumam censurar os economistas por não levarem em conta, de maneira suficiente, os problemas éticos e a necessidade de estabelecer uma fronteira entre os domínios mercadológico e não mercadológico.
Um sintoma dessa percepção é o sucesso planetário do livro O que o dinheiro não compra, de Michael Sandel, professor de filosofia em Harvard. Para citar apenas alguns de seus exemplos, Sandel defende que uma gama inteira de bens e serviços, como a adoção de crianças, a procriação assistida, a sexualidade, as drogas, o serviço militar, o direito a voto, a poluição ou o transplante de órgãos, não deve ser banalizada pelo mercado, assim como a amizade, o ingresso nas grandes universidades ou o Prêmio Nobel não devem ser comprados ou ainda os genes e, mais amplamente, o ser vivo não devem ser patenteados. De uma forma mais abrangente na sociedade, reina um mal-estar face ao mercado, que se traduz bem no conhecido slogan “O mundo não é uma mercadoria”.
Em seu livro La société des inconnus. Histoire naturelle de la collectivité humaine, meu colega Paul Seabright, diretor do Instituto de Estudos Avançados de Toulouse (Iast), analisa essas três preocupações concernentes à influência da economia de mercado. Ele observa que, longe de se basear apenas no egoísmo de seus participantes, o mercado também exige deles uma grande capacidade de estabelecer confiança – e nada é mais corrosivo para a confiança do que o egoísmo puro. Ele mostra como, desde a pré-história, foi o aspecto social de nossa natureza humana que nos permitiu ampliar o círculo de nossas trocas econômicas e sociais. De toda forma, isso certamente não nos transforma em criaturas muito altruístas. O mercado é ao mesmo tempo um lugar de competição e de colaboração, e o equilíbrio entre os dois é sempre delicado.
Um grande número de trabalhos estatísticos realizados durante os últimos vinte anos forneceu uma visão mais precisa da desigualdade. Em especial, o aumento relativo da riqueza do 1% mais favorecido (o “top 1%”) foi minuciosamente estudado pelos economistas, em especial por Thomas Piketty e seus colaboradores na análise das desigualdades de patrimônio. O aumento da parcela das rendas captada pelo 1% também é digno de nota. Por exemplo, nos Estados Unidos, a renda média cresceu 17,9% entre 1993 e 2012; a dos altos salários (o top 1%) cresceu 86,1%, enquanto a dos 99% restantes só cresceu 6,6%; a parte das rendas recebidas pelo top 1% passou de 10% em 1982 para 22,3% em 2012. Os economistas também estudaram a desigualdade em seu conjunto, pois esta é multiforme.
A PROFISSÃO DE PESQUISADOR EM ECONOMIA
Eu gostaria de concluir com algumas reflexões pessoais, e, portanto, sem dúvida alguma um tanto idiossincráticas, sobre a maneira como as ideias “entram” na concepção das políticas públicas.
Keynes descrevia assim a influência dos economistas: “Todos os políticos aplicam sem saber as recomendações de economistas em geral mortos há muito tempo e cujos nomes eles ignoram.” Uma visão bem sombria, mas não totalmente distante da realidade… Seja qual for sua especialidade em economia, o pesquisador pode influenciar de duas maneiras no debate da política econômica e nas escolhas das empresas (não existe um modelo certo, e cada um age segundo seu temperamento). A primeira é envolver-se pessoalmente; alguns, transbordantes de energia, conseguem isso, mas é muito raro um pesquisador dar conta de sua pesquisa e ao mesmo tempo ser muito ativo no debate.
Nas últimas décadas, o tratamento dos dados ganhou, a justo título, uma participação cada vez maior na economia. As causas disso são diversas: a melhoria das técnicas estatísticas aplicadas na econometria; o desenvolvimento de técnicas de experiências aleatórias controladas, similares às utilizadas em medicina (a francesa Esther Duflo, professora do MIT, é a grande especialista nesse domínio); a utilização mais sistemática de experiências em laboratório e de campo, domínios antigamente sigilosos e hoje bastante difundidos nas grandes universidades e, por fim, as tecnologias de informação, que por um lado permitiram uma vasta e rápida disseminação dos bancos de dados e, por outro, estimularam o tratamento estatístico graças a programas eficazes e baratos, bem como a um poder de cálculo infinitamente maior do que antes. Hoje,o Big Data começa a revolucionar a disciplina.
Economia comportamental. Como em toda disciplina científica, a pesquisa é um processo de cocriação através de debates com os colegas, dos seminários, das conferências e das publicações. Esses debates são intensos. Com efeito, a essência da pesquisa é voltar sua atenção para fenômenos mal compreendidos, a cujo respeito divergências de opinião são suscetíveis de ser mais manifestas. As correntes dominantes mudam em função da solidez das teorias e dos feedbacks das experiências. Assim, a economia comportamental era relativamente sigilosa há 25 ou trinta anos. Alguns centros de pesquisa, como no Caltech ou no Carnegie Mellon, apostaram pertinentemente nessa disciplina negligenciada. Desde então, a economia comportamental faz parte da corrente dominante (mainstream) e as grandes universidades têm laboratórios experimentais e pesquisadores a ela dedicados.

Como nas ciências físicas ou na engenharia, a matemática intervém em dois níveis: a modelização teórica e a validação empírica. Não pode haver fortes controvérsias quanto à necessidade de utilizar econometria (a estatística aplicada à economia) para analisar os dados. Pois um pré-requisito para a decisão é a identificação das causalidades. Uma correlação e uma causalidade são dois objetos distintos; o humorista Coluche se divertia com isso: “Quando estamos doentes, não devemos ir ao hospital; a probabilidade de morrer num leito do hospital é dez vezes maior do que numa cama em sua casa”, um nonsense completo, mesmo levando em conta as doenças hospitalares. Dizemos que há nisso uma relação de correlação, mas não de causalidade. (Caso contrário, teríamos de suprimir os hospitais). E só uma estratégia empírica fundada na econometria permitirá identificar um impacto causal e, logo, gerar recomendações de decisão econômica.
A teoria dos jogos. A microeconomia moderna fundamenta-se na teoria dos jogos – que representa e prevê as estratégias de atores dotados de objetivos próprios e em situação de interdependência – e a teoria da informação – que explica a utilização estratégica de informações privilegiadas por esses mesmos atores.
A teoria dos jogos permite conceitualizar as escolhas de estratégia por parte dos atores em situações em que seu interesse diverge. A esse título, a teoria dos jogos tem como objeto não apenas a economia, como as ciências sociais em seu conjunto e se aplica igualmente à política, ao direito, à sociologia e até mesmo (como veremos adiante) à psicologia. Foi inicialmente desenvolvida por matemáticos: o francês Émile Borel em 1921 e os americanos John Neumann (num artigo publicado em 1928, depois num livro escrito por Oskar Morgenstern e publicado em 1944) e John Nash (num artigo publicado em 1950). Os desenvolvimentos mais recentes são quase sempre motivados pelas aplicações nas ciências sociais, e são em grande parte da autoria de economistas (embora alguns desses desenvolvimentos também sejam da lavra de biólogos ou matemáticos.
Uma especificidade das ciências sociais e humanas é a importância das expectativas, e em particular da compreensão da maneira como o meio do agente vai evoluir e reagir às suas decisões; para saber como jogar, um ator deve antecipar o que farão os outros atores. Essas expectativas são racionais se o ator compreende bem os incentivos dos outros e sua estratégia, pelo menos, “na média”.
O ARCABOUÇO INSTITUCIONAL DA ECONOMIA
A organização da sociedade tradicionalmente (e implicitamente) repousa sobre dois pilares:
- A mão invisível do mercado concorrencial, descrita em 1776 por Adam Smith em A Riqueza das Nações, irá explorar a busca do interesse pessoal para obter eficiência econômica. A ideia é que o preço de um bem ou serviço, que resulta do confronto da oferta e da demanda, embute muitas informações sobre as preferências: a propensão a pagar dos compradores e os custos dos vendedores. Com efeito, um negócio só se realiza se o que o comprador estiver disposto a pagar exceder o preço que lhe é pedido; da mesma forma, o vendedor só aceitará vender se o preço que ele recebe excede o seu custo de produção. Colocando lado a lado essas duas observações, o comprador só comprará se estiver disposto a pagar mais do que sua compra custa à sociedade, isto é, o custo da produção do vendedor. Inversamente, num mercado concorrencial, os compradores e vendedores são pequenos demais para manipular o preço e, no equilíbrio do mercado, o preço é tal que a demanda a esse preço é igual à oferta a esse preço; todos os “ganhos de troca” são realizados. Logo, resulta daí uma alocação eficaz dos recursos na sociedade.
- O estado corrige as (inúmeras) falhas de mercado, que acabamos de enunciar. Ele responsabiliza os atores econômicos e é responsável pela solidariedade. Um dos mais claros defensores dessa ideia é o economista inglês Arthur Pigou (professor de Keynes em Cambridge), que, em 1920, introduziu o princípio do “poluidor-pagador” em seu livro The Economics of Welfare.
Os trabalhos de Smith e Pigou, tomados conjuntamente, constituem o fundamento do valor acionário e do liberalismo, mas de um valor acionário e de um liberalismo bem diferentes da acepções tradicionais desses termos na França, que tendem a identificá-los com a ausência de intervenção do Estado e com a luta pela sobrevivência dos indivíduos.

A concepção do Estado mudou. Ex-provedor de empregos, mediante a função pública, e ex-produtor de bens e serviços, mediante as empresas públicas, o Estado em sua forma moderna estabelece as regras do jogo e intervém para amenizar as falhas do mercado, e não para substituí-lo. De medíocre administrador de empresas, ele passa a regulador. Assume todas as suas responsabilidades ali onde os mercados são incompetentes, para criar uma verdadeira igualdade de oportunidades, uma concorrência saudável, um sistema financeiro não dependente dos resgates com dinheiro público, uma responsabilização dos agentes econômicos com respeito ao meio ambiente, uma solidariedade na esfera do seguro-saúde, na proteção dos assalariados desinformados (segurança no trabalho, direito a uma formação de qualidade) etc. Quando funciona, ele é ágil e criativo.
Essa transição, no entanto, exige um retorno às questões fundamentais (para que serve o Estado?) e uma mudança de mentalidades. Os funcionários públicos, em lugar de estarem “a serviço do Estado” — expressão infeliz que perde completamente de vista a finalidade da coisa pública –, devem estar “a serviço do cidadão”. A ideia do Estado planejador oriunda do regime de Vichy retomada depois da guerra deve dar lugar ao Estado árbitro.
OS GRANDES DESAFIOS MACROECONÔMICOS
Responsabilizar os países. Aplicar um mecanismo de emissão é relativamente fácil quando são países e não os agentes econômicos que são responsáveis por emissões nacionais de GEE [gases de efeito estufa]. Com efeito, é possível calcular as emissões antrópicas de CO2 de uma nação pelo viés de uma contabilidade de carbono, tomando a produção e as importações e delas subtraindo as exportações e a variação nos estoques. Os poços de carbono ligados às florestas e à agricultura já podem ser observados por satélite. Programas experimentais da Nasa e da ESA para mensurar as emissões globais de CO2 na escala de cada país são promissores a longo prazo. É mais fácil para a comunidade internacional fiscalizar as emissões de CO2 por país em vez de mensurá-las no nível das fontes pontuais; e, como é o caso para novos mecanismos cap and made atuais, os agentes econômicos (no caso, os países) que têm um déficit de cotas no fim do ano deverão adquirir cotas suplementares, enquanto os países com um superávit de cotas poderiam ou cedê-las, ou guardá-las para uma utilização futura.
A prioridade nº 1 das negociações deveria ser um acordo de princípio sobre o estabelecimento de um preço universal do carbono compatível com o objetivo dos 1,5ºC a 2ºC. As promessas visando preços diferenciados segundo os países não só abrem uma caixa de Pandora como, no fim das contas, não são ecológicas. O aumento das emissões virá dos países emergentes e pobres, e subprecificar o carbono nesses países não nos permitirá alcançar o objetivo dos 1,5ºC a 2ºC – ainda mais que os preços elevados do carbono nos países desenvolvidos incentivarão as produções emissoras de GEE a se instalarem nos países com preço baixo de carbono, anulando assim os esforços feitos nos países ricos.

O empregador sabe se um emprego lhe traz lucro; lucratividade no sentido mais amplo, decerto, pois o empregador pode aceitar perder dinheiro momentaneamente em um posto de trabalho, ou em uma unidade de produção, devido a uma queda circunstancial da demanda, e no entanto lucrar no longo prazo com a manutenção desse emprego. O empregador detém, assim, os elementos necessários para uma gestão de emprego. Mas é preciso também se perguntar quanto ao impacto de sua escolha (entre a manutenção do emprego ou a demissão) sobre as partes interessadas. Elas são ao menos duas em tais circunstâncias. A primeira parte interessada é o assalariado, preocupado com a manutenção do emprego ou a demissão. Esse assalariado pode sofrer um custo financeiro, ligado à perda do salário, bem como um custo psicológico (por exemplo a perda do tecido social proporcionado por seu trabalho na empresa ou tensões familiares). Essa externalidade criada pela demissão, do ponto de vista do assalariado, faz jus a duas formas de compensação: a empresa paga suas indenizações trabalhistas; e o seguro-desemprego assegura a ele uma renda alternativa, bem como uma eventual capacitação complementar. A segunda parte interessada, muitas vezes esquecida no debate, é o sistema social, e em particular o seguro-desemprego. Uma demissão cria a necessidade dos benefícios de salário-desemprego, de custos de capacitação , de custos de gestão da agência governamental de empregos e, eventualmente, ainda os custos associados a um emprego subsidiado…
A construção europeia. Num continente atormentado pelas guerras fratricidas, a construção europeia havia despertado uma imensa esperança. Garantia de liberdades, de circulação de cidadãos, bens e serviços, capitais, estava destinada a impedir os protecionismos. Garantia de solidariedade, deveria neutralizar os egoísmos nacionais e ajudar as regiões pobres a se desenvolverem graças a fundos estruturais. Mais tarde, ela correspondeu a uma vontade muito menos explícita de alguns países de delegar a uma terceira parte, a Comissão Europeia, a tarefa de modernizar a economia por meio de reformas, tais como a abertura à concorrência, que a classe política julgava necessárias, mas não ousava reivindicar em âmbito nacional.
Os defensores do euro viam nisso uma etapa no caminho de uma integração europeia mais coesa. Pensavam na União Europeia e depois no euro como os primeiros passos para uma verdadeira Europa federativa, seja pela construção progressiva de um consenso para uma integração mais coesa, seja porque seria difícil voltar atrás e, “se é para fazer, melhor ir até o fim”. Essa integração não se concretizou até agora e, infelizmente, tudo indica que não venha a se concretizar num futuro próximo. Pois tal integração deve amparar-se num abandono de soberania muito mais amplo que o de hoje, ele próprio construído sobre uma confiança recíproca, uma vontade em partilhar os riscos e um sentimento de solidariedade, coisas que não se decretam e que só estão debilmente presentes no espaço europeu. Reina atualmente, cumpre reconhecer, um desencanto com respeito à construção europeia em geral e do euro em particular (às vezes com sentimentos contrastados, como nos países da Europa meridional, cujas populações preferem majoritariamente permanecer na zona do euro).
As crises financeiras, não só a de 2008, levantam a questão de uma possível irracionalidade dos mercados financeiros e de seus participantes. Numerosos estudos, alguns antigos, outros mais recentes, não são alheios a esse questionamento: flutuações rápidas dos preços das ações, das commodities e dos produtos de renda fixa, congelamento súbito de mercados financeiro até então muito ativos, as bolhas imobiliárias e da bolsa, volatilidade das taxas de câmbio ou dos spreads soberanos, ou falências de grandes instituições financeiras. À luz desses estudos, é possível fundamentar uma análise econômica das finanças sobre uma presunção de racionalidade dos atores dos mercados financeiros?
Admite-se agora que a hipótese de racionalidade não passa de um ponto de partida para a análise dos mercados financeiros e que o quadro conceitual deve ser enriquecido para propiciar uma boa compreensão dos fenômenos observados. A fronteira foi abolida em prol de uma visão mais sofisticada do funcionamento dos mercados financeiros fundada nas bolhas financeiras, a teoria da agência, os pânicos financeiros, a economia comportamental e os atritos nos mercados financeiros – cinco vias que foram objeto de diversas pesquisas nestas últimas décadas e que suscitam alguns comentários.
A hipótese de eficiência dos mercados financeiros tem necessariamente uma parte de verdade: uma má notícia referente a uma empresa (uma condenação judiciária, a descoberta de uma falha técnica, a perda de um mercado ou de um dirigente essencial) leva a uma perda de seu valor na bolsa, a menos que essa notícia tenha sido totalmente antecipada e, logo, já incorporada no preço do ativo. O valor da nossa casa aumenta quando é anunciada a construção de uma linha de metrô passando nas proximidades e diminui quando um plano de ocupação do solo prevê um adensamento do habitat.
Bolha no pedaço. Por outro lado, pode acontecer de o preço de um ativo financeiro não ser igual a seu verdadeiro valor. Uma primeira causa dessa defasagem é a existência de uma bolha. Uma bolha existe quando o valor de um ativo financeiro excede o “fundamento” do ativo, isto é, o valor atualizado dos dividendos, juros ou aluguéis que ele proporcionará hoje e no futuro.

Crise financeira de 2008. Ninguém, inclusive entre os economistas, imaginara naquele 9 de agosto de 2007, data da primeira intervenção do Federal Reserve, o banco central americano, e do Banco Central Europeu (BCE), que setores inteiros do sistema bancário seriam resgatados pelos Estados, que os cinco maiores bancos de investimento desapareceriam enquanto tais (Lehman e Bear Stearns desapareceram pura e simplesmente, Merrill Lynch foi comprado pelo Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley sobreviveram, mas pediram para se tornarem bancos de varejo regulados a fim de receberem auxílio); que extraordinárias franquias comerciais como Citigroup, Royal Bank of Scotland e L’Union des Banques Suisses fossem capotar após tomarem riscos insensatos; que uma companhia de seguros e dois estabelecimentos fiadores de empréstimos imobiliários fossem mobilizar US$350 bilhões da parte do Estado americano; que este último viesse a comprometer 50% do PIB dos Estados Unidos pouco mais tarde; que os governos americanos e europeus fossem emprestar diretamente somas importantes à indústria; e que os bancos centrais fossem utilizar políticas monetárias não convencionais e ir muito além de seu mandato, nos fazendo entrar num período de taxas de juros extremamente baixas e sustentando os Estados e o sistema financeiro.
As crises costumam encontrar sua origem na permissividade dos períodos de vacas gordas. Os Estados Unidos, que estiveram na origem da crise, conheceram nos anos 2000 uma afluência de dinheiro em busca de investimento. Por um lado, a manutenção pelo Banco Central americano (o Federal Reserve) de taxas de juros anormalmente baixas (1% em certos períodos para a taxa curta) durante vários anos no início dos anos 2000 forneceu uma liquidez muito barata. Combinada com o desejo dos investidores de encontrar rendimentos superiores às baixas taxas de juros do mercado, essa política monetária alimentou a bolha imobiliária.
Podemos tirar ao menos duas heranças da crise [2008]: as taxas de juros baixas e a busca de novas regulações.
A primeira herança era supostamente temporária. Muito rápido, quando a crise se declarou, os bancos centrais americano, europeu e britânico abaixaram suas taxas a níveis próximos de zero, em outras palavras, a níveis negativos se levarmos em conta a inflação (isto é, em termos reais e não nominais); o Japão, por sua vez, tem uma taxa de juros abaixo de 1% desde meados dos anos 1990, e hoje igual a zero. Em 2016, foi previsto que elas ficarão próximas de 0 por muito tempo ainda no Japão e na Europa, ao passo que os Estados Unidos começam a elevá-las com bastante prudência.
As taxas de juros baixas, por mais necessárias que sejam em caso de crise, implicam custos.
- Em primeiro lugar, elas induzem uma transferência financeira maciça dos poupadores para os tomadores de empréstimos. Na realidade, é exatamente este o efeito buscado quando se aspira a resgatar um sistema bancário que vai mal das pernas. No entanto, elas vão além do efeito pretendido. A queda das taxas de juros aumenta o preço dos ativos, tais como imóveis ou ações (os rendimentos futuros sobre esses ativos são revalorizados com relação aos rendimentos oferecidos pelo mercado de títulos), implicando então uma redistribuição da riqueza: os detentores desses ativos recebem mais quando os vendem.
- As taxas de juros baixas são um terreno propício ao surgimento de bolhas financeiras. Como vimos no capítulo anterior, estas últimas tendem a se desenvolver nesses ambientes com taxas de juros baixas.
Para evitar totalmente as crises, cumpriria refrear tomada de risco e inovação e viver no curto prazo em vez de investir no longo prazo, mais arriscado, pois mais incerto. A questão, portanto, não é a eliminação completa das crises, e sim uma caçada aos incentivos que estimulam os agentes econômicos a adotar comportamentos nocivos para o resto da economia. Isso exige em especial limitar as “externalidades” exercidas pelo sistema financeiro sobre os poupadores ou contribuintes.
A QUESTÃO INDUSTRIAL
Um domínio no qual os lobbies são particularmente influentes diz respeito às restrições, ou mesmo interdições, da concorrência. É natural que as empresas estabelecidas – dos acionistas aos funcionários – desejem frear recém-chegados ou obter compensações financeiras do Estado em caso de perda de sua reserva de mercado. Sem dúvida, é menos natural que o Estado aceda a seus pedidos. Ainda assim, nem sempre os políticos são favoráveis à concorrência, seja porque desejem dar garantias aos lobbies que procuram uma proteção contra essa concorrência, seja porque sentem a concorrência como um freio à sua ação e ao seu poder político.
Um último exemplo: a proteção com relação à concorrência internacional. No começo dos anos 1990, a indústria automobilística francesa estava muito atrasada face aos seus concorrentes, em especial japoneses. Os custos eram altos e a qualidade inferior. Mas a pressão da concorrência era imitada. A abertura à concorrência das importações na Europa mudou drasticamente a organização e a produtividade. Renault e Peugeot Citroën aumentaram então nitidamente sua eficiência com relação às melhores práticas internacionais.
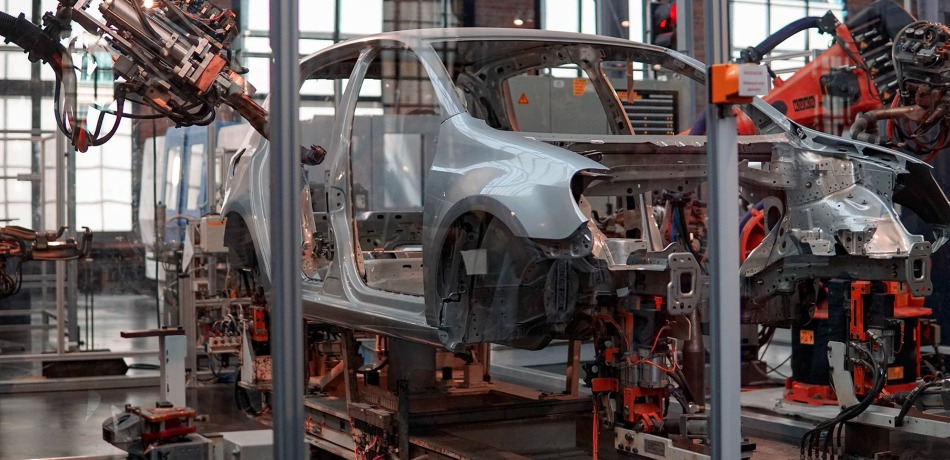
Política industrial. No domínio da pesquisa universitária, os melhores cientistas são mobilizados para priorizar os projetos e estabelecer uma classificação que não possa ser questionada por motivos políticos; é o princípio da revisão por pares, ou peer review. Por exemplo, a National Science Foundation e o National Institute of Health funcionam como agências autônomas, respeitando as opiniões dos experts. A mesma coisa no caso do Conselho Europeu para Pesquisa, criado em 2007 e que alcançou uma excelente reputação de competência e imparcialidade. Sempre no domínio da pesquisa, do ensino ou da inovação, em 2011, os grandes financiamentos e outras iniciativas de excelência recorreram a painéis de especialistas residentes, em sua maioria, no estrangeiro e isso a fim de reduzir os conflitos de interesses; uma inovação no reduto francês…
Plataformas, guardiãs da economia digital. Seu cartão Visa, o Playstation da família, o Google Chrome, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e a agência imobiliária na esquina de sua rua têm certamente mais em comum do que você imagina. Todos remetem ao modelo do “mercado biface”, isto é, um mercado em que um intermediário (e seu proprietário, Visa, Sony, Google, Facebook, agência imobiliária) permite a vendedores e compradores interagirem. Essas “plataformas” reúnem diversas comunidades de usuários que buscam interagir uns com os outros: por exemplo, os jogadores e desenvolvedores de jogos no caso da indústria de videogames; os usuários de sistemas operacionais (Windows, Android, Linux, o OS X do seu Mac ou o iOS do seu iPhone) e os desenvolvedores de aplicativos no domínio dos sistemas operacionais; os usuários e anunciantes no caso das ferramentas de busca ou das mídias; os detentores de cartão bancário e os comerciantes no caso das transações por cartão de pagamento.
Trabalho assalariado x autônomo. Rumamos para uma generalização do status do trabalhador autônomo e o desaparecimento do regime salarial, como preveem inúmeros observadores? Não sei; eu apostaria antes num deslizamento progressivo para mais trabalho autônomo, mas de forma alguma no desaparecimento do regime salarial. Crescimento da participação do trabalho autônomo, pois as novas tecnologias facilitam a interação entre os trabalhadores autônomos e clientes. Mais importante ainda é o fato de que, a baixo custo, elas geram e disponibilizam reputações individuais.
Mas a tecnologia pode às vezes ter o efeito inverso e estimular o regime salarial. George Baker e Thomas Hubbard dão o seguinte exemplo. Muitos caminhoneiros nos Estados Unidos trabalham por conta própria, o que acarreta certo número de inconvenientes: o motorista é dono do seu próprio caminhão, o que representa um investimento substancial. Sua poupança é então investida no mesmo setor que sua força de trabalho, o que expõe o caminhoneiro a um risco considerável: em caso de recessão temporária ou duradoura, a receita do trabalho e o valor de revenda do veículo caem juntos. O bom senso, segundo o qual a poupança de um indivíduo não deve ser investida no setor no qual ele trabalha, é desprezado. Por fim, um motorista autônomo deve ocupar-se pessoalmente dos consertos e, eventualmente, bancar a indisponibilidade instantânea de seu veículo. Todos esses percalços podem ser evitados com regime salarial. A própria digitalização aqui pode estimular o salário: a empresa de transportes rodoviários agora pode possuir os caminhões e monitorar o modo de dirigir do motorista com mais facilidade graças ao surgimento da informática on board.
Reforma quádrupla. Inspirada pela teoria econômica, uma reforma quádrupla foi criada nos últimos trinta anos, caracterizando-se por:
- Aumento dos incentivos à eficiência dos monopólios naturais, com a introdução de mecanismos de divisão dos ganhos de eficiência com a operadora (e, na Europa, privatizações). Por exemplo, o uso de tetos para os preços que impõem à empresa regulada um limite superior para o “preço médio” de seus serviços e deixa a empresa conservar seu lucro, contanto que a restrição seja respeitada, se generalizou.
- Reequilíbrio das tarifas (entre pessoas físicas e jurídicas, entre assinaturas, comunicações locais e de longa distância etc.). Esse reequilíbrio era desejável, pois a cobertura dos custos fixos com sobretaxas significativas sobre os serviços com a demanda muito elástica levava a subconsumos muito ineficazes e freava a introdução de serviços inovadores.
- Abertura à concorrência de determinados segmentos de atividade que não apresentam as características de monopólio natural, através das condições de licenças aos novos participantes, de um lado, e da regulação das condições de seu acesso aos gargalos de estrangulamento do operador histórico, de outro. O mercado sendo um incentivo importante, nunca é demais insistir acerca da importância da concorrência sobre o dinamismo da empresa, seja esta pública ou privada.
- E, por fim, a transferência da regulação para autoridades independentes. A concepção do papel do Estado evoluiu. O Estado produtor tornou-se Estado regulador. Sob a pressão das partes interessadas e fazendo face a uma restrição orçamentária frouxa (os déficits de uma empresa inchando o orçamento global ou a dívida pública ou ainda sendo cobertos por uma alta das tarifas pagas pelos usuários), as empresas controladas pelo poder público geralmente não produzem serviços de qualidade a baixo custo.
Embora a economia tenha guiado as reformas que incitaram os monopólios naturais a reduzir seus custos e a adotar preços promovendo o bem-estar da sociedade, permitido compreender como introduzir concorrência nesses setores sem dogmatismo e mostrado que serviço público e concorrência são perfeitamente compatíveis, ainda há muito trabalho a ser realizado e nos resta muito a aprender. Pelo bem comum.
Resenha: Rogério H. Jönck
Fotos: reprodução e Visual Stories || Micheile, Pierre Borthiry, Steve Johnson, Timon Studler, Scott Graham, Lenny Kuhne / Unsplash

Ficha técnica:
Título: Economia do bem comum
Título original: Économie du bien commun
Autor: Jean Tirole
Primeira edição: Zahar